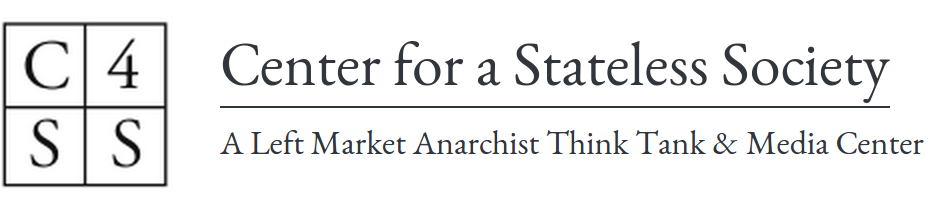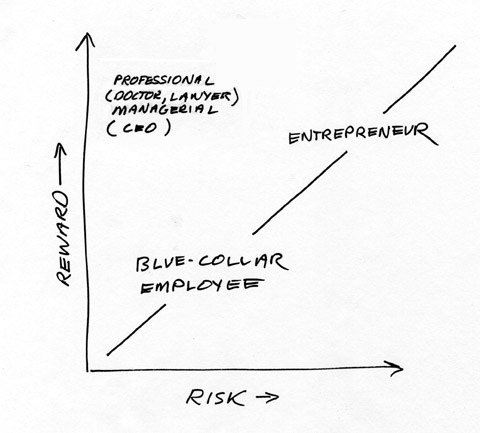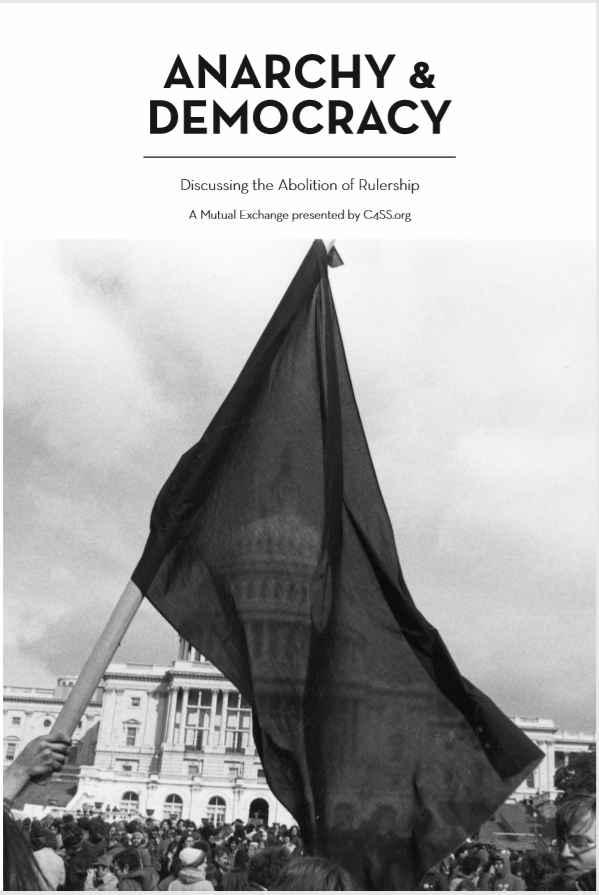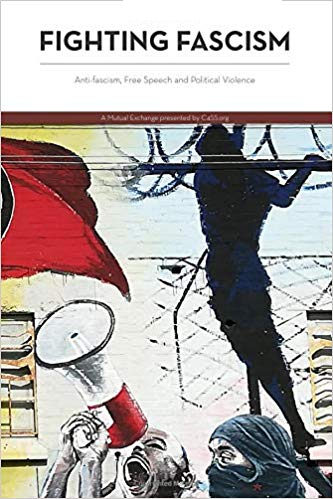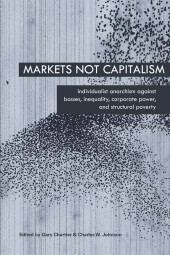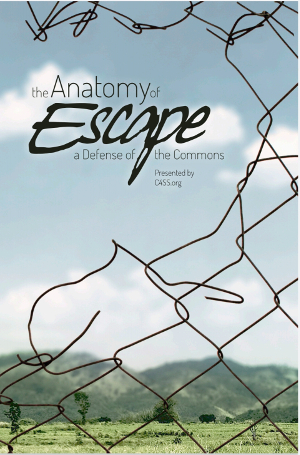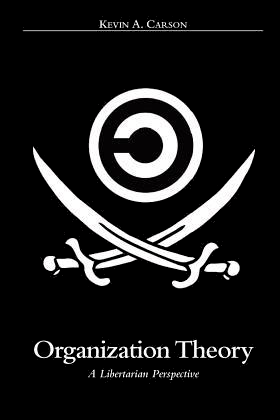The following study is translated into Portuguese from the English original, written by Kevin Carson.
Centro por uma Sociedade sem Estado – Paper No. 12 (Inverno/Primavera 2011)
Nota do Tradutor – Eis como o autor define ‘rent’, palavra que prefiro manter em inglês: ‘Mais ou menos o que os economistas significam por “quase-renda”: o excedente do produtor, ou receita mais elevada do que a que seria necessária como incentivo para trazer um bem ao mercado (isto é, um preço consistentemente mais elevado do que o custo marginal de produção). Chama-se ‘rent’ por analogia, a partir da lei da renda/aluguel (rents) da terra de Ricardo.’
Opacidade e Legibilidade.
Em Vendo Como um Estado, Scott desenvolve o tema central de “legibilidade,” que estará envolvido na maior parte de nossas linhas de análise abaixo. Refere-se a
tentativa de um estado de tornar a sociedade legível, de organizar a população de tal maneira que fiquem simplificadas as funções clássicas do estado de tributação, conscrição e prevenção de rebelião. Havendo começado a pensar nesses termos, comecei a ver a legibilidade como um problema central do estadismo. O estado premoderno era, sob muitos aspectos cruciais, parcialmente cego; sabia muito pouco acerca de seus súditos, sua riqueza, propriedade de terras e produção, sua localização, sua própria identidade. Não dispunha de qualquer coisa parecida com um “mapa” minudente de seu território e de seu povo. Carecia, de maneira geral, de uma forma de mensurar, uma métrica, que lhe permitisse “traduzir” o que sabia num padrão comum necessário para uma visão sinóptica. Em decorrência, suas intervenções eram amiúde cruas e autodestrutivas.
…. Como fez o estado para gradualmente obter claro entendimento de seus súditos e do ambiente deles? Subitamente processos tão díspares quanto a criação de sobrenomes permanentes, a estandardização de pesos e medidas, o estabelecimento de levantamento cadastral de bens de raiz e de registros de população, a invenção da posse real da terra, a estandardização da linguagem e do discurso jurídico, o projeto de cidades, e a organização do transporte pareceram inteligíveis como tentativas de legibilidade e simplificação. Em cada um dos casos citados, as autoridades tomaram práticas sociais excepcionalmente complexas, ilegíveis e locais, tais como costumes de posse da terra ou de atribuição de nomes, e criaram uma grade padronizada por meio da qual elas poderiam ser registradas e monitoradas centralizadamente…. [1]
Como fizeram os agentes do estado para começar a mensurar e a codificar, ao longo de cada região de um reino inteiro, sua população, suas propriedades de terra, suas colheitas, sua riqueza, o volume do comércio, e assim por diante? …
Cada empreendimento… exemplificava um padrão de relações entre, de um lado, o conhecimento e as práticas locais e, de outro, rotinas administrativas do estado…. Em cada caso as práticas locais de mensuração e propriedade da terra eram “ilegíveis” para o estado em sua forma bruta. Exibiam diversidade e complexidade que refletiam grande variedade de interesses puramente locais, não do estado. Vale dizer, não poderiam ser assimiladas numa grade administrativa sem ser ou transformadas ou reduzidas a uma forma taquigráfica conveniente, ainda que parcialmente ficcional. A lógica por trás da taquigrafia requerida era fornecida… pelas prementes exigências materiais dos governantes: recebimentos fiscais, pessoal para as forças armadas, e segurança do estado. Por sua vez, essa taquigrafia não funcionava… como apenas uma descrição, por mais inadequada. Escorada por poder estatal por meio de registros, tribunais e, em última análise, coerção, essas ficções do estado transformavam a realidade que presumidamente observavam, embora nunca de modo completo a ponto de fechar a grade de modo preciso. [2]
Não fica claro em que medida o conceito de Scott de legibilidade está diretamente influenciado pela análise de Michel Foucault em Disciplina e Punição. Parece, contudo, provável significativa influência. Scott cita aquele livro diversas vezes em Vendo Como um Estado, inclusive uma vez de maneira que sugere relação direta com seu próprio tratamento da legibilidade:
O que é novo no alto modernismo, acredito eu, não é tanto a aspiração de planejamento abrangente. Muitos estados imperiais e absolutistas tiveram aspiraçõies similares. Novos são, isso sim, a tecnologia administrativa e o conhecimento social que tornam plausível imaginar organizar uma sociedade inteira como antes só haviam sido organizados a caserna ou o mosteiro. No tocante a isso, a argumentação de Michel Foucault em Disciplina e Punição… é persuasiva. [3]
De qualquer forma, a análise de Foucault,, em algumas passagens, antecipa-se a Scott quase palavra por palavra, a ponto até de usar a palavra “legibilidade” essencialmente no mesmo sentido.
O Panopticon de Bentham, como descrito por Foucault, é apenas um exemplo de uma instituição arquiteturalmente projetada para tornar seus reclusos tão legíveis quanto possível para os em posições de autoridade. Foucault aplica o mesmo princípio panóptico de legibilidade a mosteiros, formações e acampamentos militares, hospitais, asilos, escolas e fábricas. Em todos os casos o princípio básico é a compartimentação, para ser eliminada ambiguidade e ser organizada a instituição — ou sociedade — na base de “Cada indivíduo tem seu próprio lugar; e cada lugar seu indivíduo.”
Evitar distribuições em grupos; desintegrar inclinações coletivas; analisar pluralidades confusas, maciças ou transientes. O espaço disciplinar tende a ser dividido em tantas secções quanto corpos ou elementos a serem distribuídos. É preciso eliminar os efeitos de distribuições imprecisas, o desaparecimento descontrolado de indivíduos, sua circulação difusa, seu ajuntamento não usável e perigoso; era uma tática de antideserção, antinomadismo, anticoncentração. Seu objetivo era deixar claras presenças e ausências, saber onde e como localizar indivíduos, estabelecer comunicações úteis, interromper outras, ser capaz de, em cada momento, supervisar a conduta de cada indivíduo, avaliá-la, julgá-la, para calcular suas qualidades ou méritos. [4]
Na fábrica, isso significava “distribuir os indivíduos num espaço no qual fosse possível isolá-los e mapeá-los…” [5] O leiaute da fábrica de Oberkampf em Jouy, tal como projetado por Toussaint Barre em 1791, por exemplo, era tal que tornava
possível efetuar supervisão ao mesmo tempo geral e individual: detectar a presença e a aplicação do trabalhador e a qualidade de seu trabalho; comparar os trabalhadores uns com os outros, classificá-los conforme habilidade e velocidade; acompanhar os estágios sucessivos do processo de produção. Todas essas serializações formavam uma grade permanente: a confusão ficava eliminada: vale dizer, a produção era subdividida e o processo de trabalho tornava-se articulado, de um lado, de acordo com seus estágios ou operações elementares e, do outro, de acordo com os indivíduos, os corpos específicos, que os realizavam: cada variavel desse grupo — força, prontidão, habilidade, constância — seria observado, e portanto categorizado, avaliado, computado e relacionado com o indivíduo que era seu agente específico. Assim, pois, distribuída de maneira perfeitamente legível por toda a série de corpos individuais, a força de trabalho pode ser analisada em unidades individuais. Quando do surgimento da indústria de larga escala descobre-se, por baixo do processo de divisão da produção, a fragmentação individualizadora do poder de trabalho; as distribuições do espaço disciplinar amiúde asseguravam ambos. [6]
A instituição era, sempre, um “observatório” no qual poder e disciplina resultavam da capacidade de ver:
O exercício da disciplina pressupõe um mecanismo que exerce coerção por meio da observação; um aparato no qual as técnicas que tornam possível ver induzem efeitos de poder e no qual, inversamente, os meios de coerção tornam aqueles nos quais são aplicados claramente visíveis. [7]
A arquitetura era projetada de forma a “tornar as pessoas dóceis e cognoscíveis,” a “permitir controle interno, articulado e detalhado—”
para tornar visíveis os que estejam dentro dela; em termos mais gerais, uma arquitetura a operar para transformar os indivíduos: atuar sobre os que abriga, exercer poder sobre sua conduta, levar os efeitos do poder até eles, tornar possível conhecê-los, alterá-los. [8]
“O perfeito aparato disciplinar,” em suma, “tornaria possível a um simples olhar a fito ver tudo constantemente.” [9] Esse era, essencialmente, o propósito do Panopticon de Bentham: “induzir no recluso um estado de visibilidade cônscia e permanente que assegura o funcionamento automático do poder.” [10]
Esse princípio aplicava-se acima de tudo ao relacionamento entre o estado e os cidadãos da sociedade em geral. O jornal fourierista La Phalange, com deliberada ironia, descreveu a filosofia implícita por trás das observações de um juiz a um andarilho processado em seu tribunal:
Havia necessidade de haver um lugar, uma localização, uma inserção compulsória: ‘A pessoa dorme em casa, disse o juiz, porque, na verdade, para ele, tudo tem de ter uma casa, algum lugar para morar, esplêndido ou modesto; a tarefa dela não é proporcionar moradia, e sim forçar todo indivíduo a viver numa residência.’ Mais que isso, uma pessoa tem de ter uma posição na vida, uma identidade reconhecível, uma individualidade fixada vez por todas: qual é sua posição? Essa pergunta é a expressão mais simples da ordem estabelecida na sociedade; tal nomadismo é repugnante para ele, perturba-o; uma pessoa precisa ter uma posição estável, contínua, de longo prazo, pensamentos acerca do futuro, um futuro seguro, para ficar a salvo de todos esses ataques.’ Em suma, uma pessoa deve ter um senhor, ser apanhada por e situada dentro de uma hierarquia; a pessoa só existe quando inserida em relações definidas de dominação…. [11]
Outra obra cuja análise superpõe-se consideravelmente à de Scott é a de E.P. Thompson “Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial.” O tratamento de Scott da legibilidade do processo de trabalho, como auxílio do controle gerencial, pode ser proveitosamente comparado com o tratamento de Thompson dos sistemas objetivos e legíveis de Scott de marcação de tempo — como o relógio e o ritmo do maquinário — como meio de imprimir ao trabalho o padrão de ritmo da gerência de preferência ao padrão tradicional de alternar estirões de trabalho intenso e de ociosidade, da “Santa Segunda-Feria,” do calendário de dias santos etc., preferido pelo trabalho dos trabalhadores que se autoempregam. [12]
O surgimento de um sistema objetivo e legível de marcação de tempo, como descrito por Thompson, é análogo aos sistemas legíveis de título da terra, pesos e medidas, dinheiro, sobrenomes etc., impostos pelos estados. E o propósito era exatamente o mesmo —aumentar a quantidade de trabalho apropriável. No caso de sistemas legíveis de marcação do tempo, isso significou acabar com “os antigos hábitos de trabalho das pessoas,” [13] nos quais os trabalhadores, normalmente, trabalhavam apenas o suficiente para comprar o necessário — apenas três ou quatro dias por semana. À medida que as classes trabalhadoras foram sendo privadas de seu antigo acesso independente aos meios de subsistência e de produção por expedientes tais como os Cercados [Enclosures], e o sistema de fábricas substituiu o autoemprego, “[a]s classes que gozavam de lazer começaram a perceber o problema… do lazer das massas.” As classes de donos de propriedades e de empregadores ficaram horrorizadas com o fato de tantos trabalhadores manuais, depois de findarem seu dia de trabalho, ainda terem “diversas horas do dia para gastar praticamente como quisessem.” [14]
Como exemplo dos novos sistemas de marcação legível do tempo impostos, Thompson citou o Livro Legal da Fundição de Ferro de Crowley, o qual determina (Ordem 103): “Para o fito de indolência e vilania serem identificadas e os justos e diligentes serem recompensados, concebi criar uma conta de tempo por meio de um Monitor….” O Monitor deveria manter uma folha de controle de tempo para cada empregado. [15]
De todos esses modos — pela divisão do trabalho; a supervisão do trabalho; multas; campainhas e relógios; incentivos em dinheiro; doutrinação e instrução; a supressão de feiras e esportes — novos hábitos de trabalho foram formados, e uma nova disciplina referente ao tempo foi imposta. [16]
Scott e Hayek: Mētis e Conhecimento Oculto.
O conceito de Scott de “mētis” (Μῆτις), em Vendo Como um Estado é a culminância de longa linha de pensamento anterior. Mētis é “conhecimento prático,” ou “conhecimento embutido em experiência local,” por oposição a techne (corpo sistemático de conhecimento formal, geral e abstrato dedutível de princípios fundamentais). [17] “Representa largo séquito de habilidades práticas e inteligência adquirida na resposta a ambiente natural e humano em constante mudança.” [18]
Qualquer praticante de uma habilidade ou ofício desenvolverá vasto repertório de manobras, juízos visuais, sentido de tato ou gestalt discriminadora para avaliar o trabalho, bem como um espectro de intuições precisas, nascidas da experiência, difíceis de serem comunicados à parte da prática. [19]
Mētis é adquirido por meio — e é aplicável a —“situações similares no geral mas nunca exatamente idênticas que requerem rápida e experiente adaptação que se torna quase segunda natureza do praticante.” “Resiste a simplificação a princípios dedutivos que possam ser transmitidos bem-sucedidamente por aprendizado livresco…” [20]
O exemplo clássico de mētis é a amplamente tida por veraz história de Squanto (ou pela variante Massasoit) oferecendo aos colonos ingleses conhecimento local de clima e tempo, solo e ciclos de crescimento de plantas nativas, desse modo impedindo que ocorresse inanição em massa. [21]
Isso deverá soar familiar a qualquer estudioso de Friedrich Hayek. Em seu clássico ensaio “O Uso do Conhecimento na Sociedade,” Hayek escreveu acerca de “conhecimento distribuído”:
Se possuirmos toda informação relevante, se pudermos começar a partir de dado sistema de preferências, e sedispusermos de conhecimento completo dos meios disponíveis, o problema remanescente será puramente de lógica. Isto é, a resposta à pergunta de qual é o melhor uso dos meios disponíveis estará implícita em nossas assunções. As condições que a solução desse problema colocado nos termos mais favoráveis tem de satisfazer já foram completamente equacionadas e melhor poderão ser enunciadas em forma matemática: dito do modo mais sucinto, são que as taxas marginais de substituição entre duas mercadorias ou fatores têm de ser as mesmas em todos os seus diferentes usos. [O que bem resume o ponto de vista neoclássico da firma como “caixa preta” guiada por uma função de produção que é um dado.—K.C.]
Esse, entretanto, não é, enfaticamente, o problema econômico com o qual a sociedade se defronta….
O caráter peculiar do problema de uma ordem econômica racional é determinado precisamente pelo fato de que o conhecimento das circunstâncias das quais temos de fazer uso nunca existe em forma concentrada ou integrada, e sim tão-somente como os fragmentos dispersos de conhecimento incompleto e amiúde contraditório que todos os indivíduos separadamente possuem. O problema econômico da sociedade não é pois meramente um problema de como alocar recursos “dados” — se “dados” for entendido como uma mente única que deliberadamente resolve o problema colocado por esses “dados.” É, antes, o problema de como assegurar o melhor uso de recursos conhecidos por qualquer dos membros da sociedade, para fins cuja importância relativa só esses indivíduos conhecem. Ou, para dizer de maneira resumida, é um problema da utilização de conhecimento não dado a ninguém em sua totalidade. [22]
Hoje em dia é quase heresia sugerir que o conhecimento científico não constitua a soma de todo conhecimento. Mesmo pouca reflexão, entretanto, mostrará haver, sem sombra de dúvida, um corpo de conhecimento muito importante mas não organizado ao qual não há como chamar de científico no sentido de conhecimento de regras gerais: o conhecimento das circunstâncias específicas de tempo e lugar. É no tocante a isso que praticamente todo indivíduo tem vantagem sobre todos os demais, por possuir informação exclusiva de qual o uso benéfico que poderia ser feito, mas cujo uso só poderá ser feito se as decisões respectivas forem deixadas para aquele indivíduo tomar, ou forem tomadas com sua cooperação ativa. Só precisamos lembrar do quanto temos de aprender em qualquer ocupação depois de termos completado nosso treinamento teórico, de quanto é grande a extensão de nossa vida de trabalho gasta no aprendizado de atividades específicas, e do quanto constitui ativo valioso em toda profissão o conhecimento das pessoas, das condições locais, e de circunstâncias especiais. [23]
Se pudermos concordar com que o problema econômico da sociedade diz respeito, principalmente, a rápida adaptação a mudanças nas circunstâncias específicas de tempo e lugar, poderíamos dizer parecer seguir-se que as decisões últimas tenham de ser deixadas para as pessoas familiarizadas com as circunstâncias, com conhecimento direto das mudanças relevantes e dos recursos imediatamente disponíveis para lidar com elas. Não podemos esperar que esse problema seja resolvido mediante primeiro a comunicação de todo esse conhecimento a uma diretoria centralizada que, depois de integrar todo o conhecimento, emita suas ordens. [24]
Mētis superpõe-se em medida considerável ao que Michael Polanyi chama de “conhecimento tácito”: habilidades adquiridas por meio de memória de habilidades motoras ou também de prática, que só com dificuldade (ou nunca) pode ser reduzida a uma fórmula verbal e transmitida em forma de instrução falada ou escrita.25 Scott dá o exemplo de “tentar escrever instruções explícitas acerca de como andar de bicicleta….” [26] Assim, pois, “a maior parte das artes e ofícios que requeiram sensibilidade em relação a implementos e materiais têm sido, tradicionalmente, ensinada mediante longos períodos de aprendizado oriundo de mestres artífices.” [27]
Alex Pouget sugere um motivo pelo qual tanto conhecimento situacional resiste redução a fórmula verbal. Alguns neurologistas acreditam que as funções do cérebro funcionam como um dispositivo de cálculo bayesiano, “tomando diversos fragmentos de informação, sopesando seu valor relativo, e chegando rapidamente a uma boa conclusão”:
…[S]e desejarmos fazer algo, tal como pular por sobre um regato, precisamos extrair dados não inerentemente parte daquela informação. Precisamos processar todas as variáveis que vemos, inclusive a largura aparente do regato, quais poderiam ser as consequências de cair dentro dele, e quão longe sabemos poder saltar. Cada neurônio responde a uma variável específica e o cérebro decidirá da conclusão acerca do conjunto total de variáveis, usando inferência bayesiana.
Ao a pessoa chegar a decisão, haverá muito transtorno para colocar em palavras a maioria das variáveis que o cérebro acabou de processar para a pessoa. Analogamente, a intuição bem poderá consistir menos numa explosão de percepção do que em um consenso tosco entre os neurônios. [28]
Uma observação interessante de Scott é mētis não ser, em absoluto, necessariamente questão de conhecimento puramente tradicional, nem ser conservador. Em verdade, ele evita expressões tais como “conhecimento tradicional.” [29] Antes, mētis frequentemente reflete muito engenho e invenção em alto grau. As inovações e expedientes produzidos por meio de mētis são amiúde uma resposta a uma situação apresentada mais racional e eficaz do que aquelas mediadas por uma hierarquia gerencial.
Como destaca Scott, “os pobres e marginalizados estão amiúde na vanguarda de inovações que não requeiram muito capital. Isso não é, em absoluto, surpreendente ao se considerar que, para os pobres, uma aposta arriscada frequentemente faz sentido quando as práticas atuais deles estão fracassando.” [30] Ele aponta para o exemplo hipotético de dois pescadores,
ambos os quais dependem de um rio para ganhar a vida. Um dos pescadores vive à beira de um rio onde a captura é estável e abundante. O outro mora ao lado de um rio onde o apanho é variável e esparso, proporcionando apenas magra e precária subsistência. O mais pobre dos dois claramente terá interesse imediato, de vida ou morte, em conceber novas técnicas de pescar, observando intimamente os hábitos dos peixes, situando cuidadosamente armadilhas e redes retentoras de peixes, registrando épocas e sinais de migrações sazonais de diferentes espécies, e assim por diante. [31]
Isso vai de par com minha própria linha de análise alhures. São as classes privilegiadas, com suas grandes propriedades, e as grandes corporações, com seus insumos fortemente subsidiados, que têm condições de expandir a produção mediante acréscimo extensivo de insumos e de ser relativamente ineficientes em termos de produção por unidade de insumo. Os produtores de pequena escala, por outro lado, sem acesso a grandes montantes de capital, têm de, necessariamente, ser extremamente criativos em encontrar meios de fazer uso mais intensivo de insumos limitados. Assim vem a ocorrer que a contraeconomia, ou economia informal e caseira, seja a fonte de muita inovação em tecnologias de baixo overhead e baixo custo. Em Teoria da Organização: Uma Perspectiva Libertária, escrevi:
…[A]s classes proprietárias usam formas menos eficientes de produção precisamente por o estado dar-lhes acesso preferencial a grandes tratos de terra e subsidiar os custos de ineficiência da produção em larga escala. As pessoas engajadas na economia alternativa, por outro lado, farão o uso mais intensivo e eficiente dos limitados terra e capital disponíveis para elas. Assim, o equilíbrio de forças entre a economia alternativa e a capitalista não estará nem perto de ser tão desigual quanto a distribuição de propriedade poderia sugerir.
Se toda pessoa capaz de beneficiar-se da economia alternativa participar dela, e fizer uso pleno e eficiente dos recursos já disponíveis, no final teremos uma sociedade onde a maior parte do que a pessoa média consome será produzido numa rede de produção de autoempregados ou de propriedade de trabalhadores, e as classes proprietárias serão deixadas com grandes tratos de terra e fábricas com falta de funcionários quase inúteis para elas por tornar-se extremamente caro empregar trabalho, exceto pagando preço não lucrativo. A essa altura a correlação de forças terá mudado até que capitalistas e proprietários de terras se tornem ilhas num mar cooperativo — e suas terras e fábricas se tornem a última coisa a cair, do mesmo modo que a Embaixada Estadunidense em Saigon. [32]
Esse é o mesmo princípio geral que John Robb, recorrendo à terminologia da engenharia, chama de “compressão STEMI,” que Bucky Fuller chamou de “efemerização,” que Mamading Ceesay chama de “economia da agilidade,” e Nathan Cravens chama de “recursão produtiva.” Todas essas expressões equivalem, em termos práticos, a extração mais eficiente de produção a partir dos insumos. [33]
O relato oficial, a versão tida por verdadeira/correta, oriunda de autoridades como Schumpeter e Galbraith, diz-nos que a grande organização, altamente capitalizada, gerencial, é fundamental para o progresso tecnológico; a ideologia altomodernista das classes gerenciais inclui um “reflexo” de “desdém pela história e pelo conhecimento do passado.” [34] Como escreveu Schumpeter:
…[H]á vantagens que, embora não estritamente inatingíveis no nível competitivo da empresa, são, na prática, asseguradas apenas por exemplo no nível de monopólio, porque monopolizar pode aumentar a esfera de influência dos melhores cérebros e diminuir a esfera de influência dos cérebros inferiores, ou pelo fato de o monopólio gozar de condição financeira desproporcionalmente mais elevada….
Não pode haver qualquer dúvida razoável de que, nas condições de nossa época, tal superioridade é, na prática, a característica preeminente da unidade de controle de larga escala. [35]
E Galbraith, desenvolvendo o mesmo tema, atribuiu a “uma benigna Providência” a ascensão da “moderna indústria de umas poucas grandes firmas” como “excelente instrumentalidade para induzir mudança técnica.”
…. O desenvolvimento técnico tornou-se há longo tempo domínio do cientista e do engenheiro. A maioria das invenções baratas e simples já foram… feitas. Não apenas o desenvolvimento é mais sofisticado e dispendioso mas tem de ter escala suficiente para sucessos e fracassos não destoarem muito entre si.
Pelo fato de o desenvolvimento ser dispendioso, segue-se só poder ser levado a efeito por uma firma que disponha dos recursos vinculados a tamanho considerável. Ademais, a menos de a firma dispor de substancial fatia do mercado, não terá grande incentivo para empreender grandes gastos de desenvolvimento….
…[N]a moderna indústria compartilhada por umas poucas grandes firmas, porte e as recompensas que se acrescem ao poder de mercado compõem-se para assegurar que os recursos para pesquisa e desenvolvimento técnico fiquem disponíveis. O poder que habilita a firma a ter alguma influência sobre os preços assegura que os ganhos resultantes não sejam passados para o público por imitadores… antes de o desembolso relativo ao desenvolvimento poder ser reembolsado….
O substantivo de tudo isso é ter de haver algum elemento de monopólio numa indústria, para que ela possa ser progressista. [36]
Entretanto, quase sempre a verdade é o oposto. Como Hayek sugeriu (ver abaixo na secção “Vendo Como Chefe e A Arte de Não Ser Gerido”), e como confirmado por evidência empírica apresentada por escritores tais como Harvey Leibenstein e Barry Stein, [37] adaptações e mudanças na configuração de maquinário existente, e organização mais eficiente da produção de fábrica e equipamento já existentes — coisas que custam pouco em termos de investimento novo, e que os trabalhadores usualmente são quem tem melhores condições de determinar — podem resultar em maiores aumentos de produtividade do que a introdução de uma nova geração de maquinário. Grande parcela de inovação técnica consiste em mesclas criativas de tecnologias já existentes e à venda, usadas como blocos de construção. E fatia desproporcional dessa inovação provém de grupos trabalhando de maneira não convencional que procuram reproduzir a pequena oficina dentro de uma burocracia corporativa.
Tão amiúde quanto não (ou mais amiúde do que não), são as grandes corporações oligopolistas capital-intensivas quem suprime ativamente a competição de tecnologias de menor escala, menor custo e mais eficientes.
E é precisamente por causa de seu acesso privilegiado — e subsidiado — a grande quantidade de terra, capital e outros recursos que os produtores em larga escala podem dar-se ao luxo de ser ineficientes. Ao longo da maior parte do século 20, a indústria estadunidense aumentou principalmente por meio de acréscimo extensivo de insumos em vez de por extração intensiva de mais produção por unidade de insumo. As práticas de cultivo intensivo do camponês do Terceiro Mundo ou do pequeno agricultor estadunidense normalmente produzem várias vezes mais por acre do que a grande hacienda que mantém 80% de sua terra sem cultivo, ou do que a grande operação de agronegócio que ganha mais dinheiro mantendo terra ociosa como investimento imobiliário apoiado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – USDA do que efetivamente cultivando-a. A despeito da retórica de “nós alimentamos o mundo” do complexo USDA-agronegócios, o uso mais produtivo da terra é o sistema biointensivo de John Jeavons de agricultura de canteiros mais elevados que o solo em volta, que pode alimentar uma pessoa com apenas um décimo de acre.
Na verdade, contrariamente a Galbraith, é amiúde o poder de mercado da grande organização que permite a ela suprimir inovação. Os produtores grandes e ineficientes, havendo cartelizado um setor industrial entre eles próprios mediante erguerem barreiras à entrada contra técnicas mais eficientes, desse modo se isolaram dos maus efeitos da ineficiência competitiva. Com a indústria dividida entre um punhado de grandes produtores com as mesmas técnicas ineficientes e as mesmas culturas organizacionais patológicas, não há penalidade competitiva para a ineficiência porque todo mundo é igualmente ineficiente. As firmas dominantes podem concordar em postergar a adoção de nova tecnologia até que suas fábricas e equipamentos existentes se exauram — uma situação na qual, nas palavras de Paul Goodman, “[t]rês ou quatro fabricantes controlam o mercado de automóveis, competindo com preços fixados independentemente dos custos reais de produção, e de aperfeiçoamentos dosadamente procedidos.” [38]
De acordo com Walter Adams e James Brock, a consolidação de número relativamente grande de firmas de tamanho médio nas Três Grandes – Big Three depois da Segunda Guerra Mundial levou diretamente a significativa desaceleração do ritmo de inovação. Elas atrasaram inovações tais como a tração dianteira, freios de disco, injeção de combustível e coisas da espécie, durante anos. [39] Para tomar um exemplo, os maiores fabricantes de automóveis entraram num acordo no final dos anos 1950 segundo o qual nenhuma companhia anunciaria ou instalaria qualquer inovação em dispositivos exaustores antipoluição sem a concordância das outras; elas trocaram patentes e concordaram quanto a uma fórmula para compartilhar os custos de patentes adquiridas de terceiros. [40]
A maior parte do código regulamentador consiste de medidas para todos os intentos e propósitos escritas por grandes firmas das próprias indústrias regulamentadas, para criminalizar a introdução de técnicas novas e mais eficientes.
Scott e R. A. Wilson: Poder e Comunicação.
Dominação e a Arte da Resistência [41], de Scott, é um estudo acerca de como a comunicação é distorcida pelas relações de poder. Os pobres e subordinados, como ele diz no Prefácio, dizem uma coisa na presença dos ricos ou de seus superiores e outra entre eles próprios. O foco do livro é principalmente nesse fenômeno tal como ocorre nas relações de classe da sociedade como um todo e em relacionamentos de produção agrária quase-feudais tais como escravidão, servidão e meeiros — não em hierarquias burocráticas como as do órgão do governo ou da grande corporação. E o caráter da comunicação ele próprio que é distorcido envolve precipuamente a legitimidade da ordem de classes em vez de as informações necessárias para projeto ótimo de políticas ou organização de tarefas. O princípio geral que ele descreve, contudo, é certamente aplicável a nossa presente área de interesse. Não é preciso levar muito adiante a linha de análise dele para chegar-se ao dito de R. A. Wilson de que ninguém diz a verdade a um homem com uma arma de fogo. Como argumentou Wilson em “Treze Corais para o Divino Marquês,”
Uma civilização baseada em autoridade e submissão é uma civilização sem meios de autocorreção. A comunicação eficaz flui apenas de um modo: do grupo dos senhores para o grupo dos servos. Qualquer ciberneticista sabe que tal canal de um único sentido de comunicação carece de feedback e não tem como comportar-se “inteligentemente.”
O epítome da autoridade-e-submissão é o Exército, e a rede de controle e comunicação do Exército tem todos os defeitos que um pesadelo de ciberneticista poderia conjurar. Seus padrões típicos de comportamento estão imortalizados no folclore como SNTF (situação normal: todos fornicados), FAQE (fornicados além de qualquer esperança) e ACERF (as coisas estão realmente fornicadas). Em forma menos extrema, mas igualmente nosológica, estão as condições típicas de qualquer grupo autoritário, seja ele uma corporação, uma nação, uma família, ou toda uma civilização. [42]
A comunicação de sentido único cria opacidade a partir de cima; a comunicação de sentido duplo cria legibilidade horizontal. Para citar Michel Bauwens:
A capacidade de cooperar é verificada no próprio processo de cooperação. Portanto, os projetos estão abertos a todos os chegantes, desde que tenham as habilidades necessárias para contribuir para o projeto. Essas habilidades são verificadas, e comunalmente validadas, no próprio processo de produção. Isso fica claro em projetos abertos de publicação tais como o jornalismo participativo: qualquer pessoa pode afixar os, e qualquer pessoa pode verificar a veracidade dos, artigos. São usados sistemas de reputação para validação comunal. A filtragem dá-se a posteriori, não a priori. O anticredencialismo contrasta pois com a revisão tradicional por iguais, onde as credenciais são pré-requisito essencial para participar.
Os projetos P2P são caracterizados por holoptismo. O holoptismo envolve a capacidade implícita e o projeto de processos entre iguais, permitindo aos participantes livre acesso a todas as informações acerca dos outros participantes; não em termos de privacidade, mas em termos da existência e das contribuições deles (isto é, informações horizontais) e acesso aos objetivos, à métrica e à documentação do projeto como um todo (isto é, informações verticais). Isso pode ser contrastado com o panoptismo, característico dos projetos hierárquicos: os processos são projetados para reservar o conhecimento ‘total’ para uma elite, enquanto os participantes só têm acesso àquilo que é ‘indispensável saber’. Entretanto, nos projetos P2P, a comunicação não é de cima para baixo e baseada em regras de relato estritamente definidas, e sim o feedback é sistêmico, integrado no protocolo do sistema cooperativo. [43]
Wilson (com Robert Shea) desenvolveu o mesmo tema em O Illuminatus! Trilogia. “….[E]m uma hierarquia rígida, ninguém questiona ordens que parecem vir de cima, e aqueles bem no cimo estão de tal modo isolados da situação real de trabalho que nunca vêem o que está acontecendo abaixo.” [44]
Um homem com arma de fogo só fica sabendo do que as pessoas consideram não o provocará a puxar o gatilho. Visto que toda autoridade e governo estão baseados na força, a classe senhorial, com sua carga de onisciência, vê a classe servil, com seu fardo de necedade, precisamente como um assaltante de estrada vê sua vítima. A comunicação só é possível entre iguais. A classe senhorial nunca obtém da classe servil informação suficiente para saber o que realmente está acontecendo no mundo onde a produtividade real da sociedade acontece…. O resultado só pode ser deterioração progressiva entre os que mandam. [45]
Como veremos adiante na secção “Vendo Como Chefe e a Arte de Não Ser Gerido,” essa incapacidade da classe senhorial de abstrair informação suficiente, e essa percepção da gerência pelos trabalhadores como “um assaltante de estrada,” resulta no amealhamento de informação por aqueles que estão por baixo e o uso dessa informação como fonte de rents.
O teórico da organização radical Kenneth Boulding, em veia similar, escreveu do valor da “análise da maneira pela qual a estrutura organizacional afeta o fluxo de informação,”
portanto afeta o insumo da informação para o tomador de decisão…. Há muita evidência de que todas as estruturas organizacionais tendem a produzir falsas imagens no tomador de decisões, e de que quanto maior e mais autoritária a organização maior será a probabilidade de que seus tomadores de decisão de alto escalão estejam operando em mundos puramente imaginários. [46]
Ou na incisiva frase de Bertram Gross: “Uma pessoa com grande poder não obtém informação válida em absoluto.” [47]
Em sua discussão do mētis, Scott traça uma conexão entre ele e a mutualidade —“enquanto oposta a coordenação imperativa e hierárquica”—e reconhece sua dívida para com pensadores anarquistas como Kropotkin e Proudhon por essa percepção. [48] Mētis só floresce num ambiente de comunicação nos dois sentidos entre iguais, onde a pessoa em contato com a situação — a pessoa que realmente faz o trabalho — está em situação de igualdade.
Interessantemente, R.A. Wilson havia anteriormente notado a mesma conexão entre mutualidade — comunicação bilateral entre iguais — e informação precisa — em “Treze Corais.” E incluiu sua própria alusão a Proudhon, não menos:
Proudhon era grande analista da comunicação, nascido 100 anos cedo demais para ser compreendido. Seu sistema de associação voluntária (anarquia) está baseado nos princípios simples de comunicação de que um sistema autoritário significa comunicação num só sentido, ou estupidez, e um sistema libertário significa comunicação em dois sentidos, ou racionalidade.
A essência da autoridade, como ele via, era a Lei — isto é, faça-se — isto é, comunicação eficaz num sentido apenas. A essência de um sistema libertário, como ele também via, era Contrato — isto é, acordo mútuo — isto é, comunicação eficaz em ambos os sentidos. (“Redundância de controle” é a expressão técnica cibernética.)
Em seu livro A Realidade de Quem Conta? Colocação do Primeiro em Último, Robert Chambers descreve como as relações de autoridade distorcem o fluxo de informação na elaboração da política de desenvolvimento do Terceiro Mundo.
O foco central de seu livro é o que ele chama de erros “enrustidos” (por oposição a “aceitos”). Aceito é um erro o qual, na presença de mecanismo saudável de feedback, é reconhecido e usado como ferramenta de aprendizado para corrigir futuras tentativas de elaboração de políticas. Erros enrustidos, por outro lado, “tendem a espalhar-se, a se autoperpetuar, e a se entranhar.” Fazem isso porque “se adaptam ao que as pessoas poderosas querem acreditar,” [49] e pelo fato de as pessoas poderosas estarem insuladas em relação a feedback eficaz.
Não apenas os erros enrustidos se adaptam ao que as pessoas poderosas querem acreditar, mas os poderosos têm interesse velado na perpetuação de tais erros na medida em que eles reforçam o poder e os recursos disponíveis para eles. A perpetuação do erro depende, em parte, de “quem ganha materialmente com aquilo que as pessoas acreditam.”
Quanto o mito dá apoio a políticas, projetos e programas, muitos ficam em posição de ganhar. Tanto indivíduos quanto organizações: burocratas, políticos, empreiteiros, consultores, cientistas, pesquisadores e aqueles que financiam pesquisa; e suas organizações — burocracias nacionais e internacionais, sistemas políticos, companhias, firmas ou consultores, institutos de pesquisa e órgãos de financiamento de pesquisa. Qualquer um, ou diversos, ou todos esses podem beneficiar-se com a aceitação de ideias, projetos ou políticas errados. [50]
Na presença de relações de poder hierárquicas, o fluxo de informação é distorcido — além dos interesses velados — por diversos fatores que de algum modo se imbricam. Primeiro o profissionalismo, no qual “crenças errôneas [ficam] embutidas nos conceitos, valores, métodos e comportamento normalmente dominantes em disciplinas e profissões.” Os erros enrustidos refletem “valores e crenças dominantes atuais” reforçados pela cultura profissional e por contato entre pares profissionais. [51]
Segundo, a “distância,” no sentido de aqueles no poder estarem “física, organizacional, social e cognitivamente distantes das pessoas e condições em relação às quais [estejam] analisando, planejando e prescrevendo, e acerca das quais estejam fazendo previsões.” As pessoas no poder estão amiúde fisicamente distantes, “situadas centralmente, em sedes, em escritórios, em laboratórios e em postos de pesquisa,” muito longe das realidades com as quais suas políticas são formuladas para lidar. [52]
Terceiro, o poder. Um cargo de poder — estar em posição superior de autoridade, tendo controle do financiamento ou das perspectivas de carreira daqueles de quem recebem relatórios etc. — tende a condicionar as percepções daqueles no cimo, impedindo que aprendam. [53]
Para o aprendizado, o poder é uma deficiência. Parte da explicação do erro persistente reside nas relações interpessoais de poder. Profissionais poderosos podem impor suas realidades…. O aprendizado dos que estão em cima é tolhido por domínio pessoal, distância, negação, e responsabilização da vítima. De sua parte, os que estão em baixo defendem-se por meio do que selecionam para mostrar e contar, da diplomacia, e da tapeação. Autoengano e engano mútuo sustentam os mitos. Pesquisas por questionário tendem a confirmar as realidades dos que estão em posição superior, impondo seus constructos e refletindo suas realidades… Todo poder tapeia, e poder excepctional tapeia excepcionalmente….
….Todos os que são poderosos são por definição pessoas que estão no alto, por vezes muitas vezes no alto. As outras pessoas relacionam-se com eles na condição de pessoas que estão por baixo. Em suas vidas diárias muitos dos que estão no alto ficam vulneráveis a aquiescência, deferência, lisonja e aplacamento. Não são facilmente contraditos ou corrigidos. ‘A palavra deles prevalece’. Torna-se fácil e tentador para eles… impor suas realidades e negar as dos outros. Torna-se difícil para eles aprender. [54]
Vendo Como Chefe, e A Arte de Não Ser Gerido: Opacidade e Mētis na Hierarquia Corporativa.
Hayek, em “O Uso do Conhecimento na Sociedade,” tratou o mercado como o mecanismo principal para agregar conhecimento disperso ou oculto. O problema é que os atores dominantes do mercado — grandes corporações — são ilhas de planejamento centralizado num mar de mercado. E em grande parte da economia são ilhas muito grandes, com o domínio do mecanismo de preços do mercado relegado a estreitos canais entre elas.
Ora, como argumentou Ronald Coase, num livre mercado as fronteiras entre planejamento centralizado e relações de preços no mercado seriam traçadas no ponto onde o aumento de benefícios decorrentes de controle administrativo cessasse de anular as ineficiências resultantes da perda do mecanismo de mercado. Mas o que existe não é um livre mercado. É uma economia corporatista na qual o estado subsidia os custos operacionais do grande porte e protege enormes corporações ineficientes da pressão competitiva, de tal maneira que as ilhas de planejamento central ficam muitas vezes maiores — e mais ineficientes — do que provavelmente seriam num livre mercado.
Uma hierarquia corporativa interfere nas avaliações do que Hayek chamou de “as pessoas no lugar,” e na coleta de conhecimento disperso de circunstâncias, exatamente da mesma maneira que o estado faz.
A maioria das atividades de produção envolve considerável quantidade de mētis, e depende da iniciativa de trabalhadores para improvisar, aplicar habilidades de novas maneiras, diante de eventos ou totalmente imprevisíveis ou não totalmente previsíveis. [55] Hierarquias rígidas e regras rígidas de trabalho funcionam num ambiente previsível. Quando o ambiente é imprevisível, a chave do sucesso reside na posse de poder e de autonomia por aqueles em contato direto com a situação.
As organizações hierárquicas são — para tomar de empréstimo uma frase luzente de Martha Feldman e James March—sistematicamente estúpidas. [56] Por todas as mesmas razões hayekianas que tornam uma economia planificada insustentável, nenhum indivíduo é “genial” o suficiente para administrar uma grande organização hierárquica. Ninguém — nem Einstein, nem John Galt — possui as qualidades para fazer uma hierarquia burocrática funcionar racionalmente. Ninguém é genial a esse ponto, do mesmo modo que ninguém é genial o bastante para administrar eficientemente o Gosplan — essa é toda a questão. Como disse Matt Yglesias,
Creio ser digno de nota que a classe empresarial, como conjunto, tem uma visão curiosa e de certo modo incoerente do capitalismo e de por que ele é uma coisa boa. Na verdade, é, sob a maioria dos aspectos, uma visão retrógrada que contrasta fortemente com a abordagem da ciência econômica ou política acerca de por que os mercados funcionam.
A visão básica dos empresários está muito concentrada no papel fundamental do executivo. Firmas boas, lucrativas, em crescimento são administradas por executivos brilhantes. E a capacidade da firma de crescer e ser lucrativa é evidência do brilho de seus executivos. Esse é parte do motivo pelo qual os salários dos Executivos Principais – CEO precisam estar sempre subindo — recrutar o melhor é essencial para o sucesso. Os líderes de grandes firmas tornam-se figuras reverenciadas…. Seu sucesso decorre de genialidade total….
O problema disso é que, se isso fosse geralmente verdade — se os CEOs da lista das 500 da Fortune fossem brilhantes videntes econômicos — então faria muito sentido implantar-se o socialismo. Socialismo real. Nada de tributação progressiva para financiar um levemente redistributivo estado assistencialista. E sim “vamos deixar Vikram Pandit e Jeff Immelt planejarem centralizadamente a economia — afinal de contas, eles realmente são brilhantes!”
No mundo real, porém, a questão dos mercados não é que os executivos sejam espertos e os burocratas sejam broncos. A questão é que ninguém é tão brilhante assim. [57]
Não importa o quanto sejam esclarecidos e capazes, não importa o quanto competentes, como seres humanos na lide com a realidade efetiva, ainda assim, por sua própria natureza, as hierarquias insulam aqueles que estão no cume da realidade do que está acontecendo abaixo, e força-os a funcionar em mundos imaginários onde toda a sua inteligência se torna inútil. Não importa o quanto os gerentes sejam inteligentes enquantoindivíduos, uma hierarquia burocrática torna a inteligência deles menos usável. A única solução é dar discricionariedade àqueles em contato direto com a situação. Como escreve Bruce Schneier no tocante a segurança contra ataque:
A boa segurança tem como encarregadas pessoas. As pessoas são resilientes. As pessoas conseguem improvisar. As pessoas conseguem ser criativas. As pessoas conseguem desenvolver soluções adaptadas ao local específico…. As pessoas são o ponto mais forte num processo de segurança. Quando um sistema de segurança é bem-sucedido perante ataque novo ou coordenado ou devastador, isso geralmente se deve aos esforços das pessoas. [58]
O problema das relações de autoridade numa hierarquia é que, dado o conflito de interesses criado pela presença do poder, aqueles com autoridade não podem permitir-se dar discricionariedade àqueles em contato direto com a situação. Resulta estupidez sistemática, inevitavelmente, de uma situação na qual uma hierarquia burocrática tem de desenvolver alguma métrica para avaliar as habilidades ou a qualidade do trabalho de uma força de trabalho acerca de cujo trabalho real ela nada sabe, e cujos interesses materiais militam contra sanar a ignorância da gerência. Quando a gerência não sabe (nas palavras de Paul Goodman) “o que significa um bom trabalho,” é forçada a confiar em métrica arbitrária.
A maior parte do constantemente crescente fardo de papelada existe para dar a ilusão de transparência e controle a uma burocracia que está fora de contato com o real processo de produção. A maioria da nova papelada é acrescentada para compensar o fato de a papelada já existente refletir métrica pobremente concebida que transmite pobremente a informação que supostamente mensura. “Se tão-somente conseguirmos conceber o formulário perfeito, saberemos finalmente o que está acontecendo.”
Numa hierarquia, os gerentes são forçados a ver “por espelho, em enigma” um processo necessariamente opaco para eles porque eles não estão diretamente envolvidos nele. Eles são forçados a realizar a tarefa impossível de desenvolver métrica precisa para avaliar o comportamento dos subordinados, com base em autorrelato de pessoas em relação às quais eles têm conflito fundamental de interesses. Toda a carga de papelada que a gerência impõe aos trabalhadores reflete tentativa de tornar legível um conjunto de relações sociais que, por sua natureza, tem de ser opaco e vedado a ela, porque ela está fora dele. Cada novo formulário visa a melhorar o até agora imperfeito autorrelato dos subordinados. A necessidade de nova papelada está baseada na premissa de que o cumprimento precisa ser verificado porque as pessoas que estão sendo monitoradas têm conflito fundamental de interesses com aqueles que elaboram as políticas, e portanto não se pode confiar nelas; ao mesmo tempo, porém, a papelada depende do autorrelato como principal fonte de informação. Toda vez que nova evidência é apresentada mostrando que esta ou aquela tarefa não está sendo desempenhada de modo satisfatório para a gerência, ou que tal política não está sendo observada, a despeito das já existentes resmas de papelada, a reação da gerência é conceber mais outro — e igualmente inútil — formulário.
Regras weberianas de trabalho resultam como consequência inevitável quando métricas de desempenho e qualidade não estão ligadas a feedback direto oriundo do próprio processo de trabalho. Representam uma métrica de trabalho para alguém que não é nem criador/fornecedor nem usuário final. E são necessárias — repetindo — porque aqueles no cume da pirâmide não podem permitir-se deixar aqueles no sopé terem liberdade para usar seu próprio bom senso. Uma burocracia não pode permitir-se conceder a seus subordinados tal autonomia, porque alguém com discricionariedade para fazer as coisas mais eficientemente também terá discricionariedadel para fazer algo mau. E como o subordinado tem conflito fundamental de interesses com o superior, e não internaliza os benefícios de aplicar sua inteligência, não se torna confiável quanto a usar sua inteligência para benefício da organização. Em tal relacionamento de soma zero, qualquer discricionariedade pode levar a abuso.
Daí o pesadelo burocrático— como algo diretamente saído de Brazil — que Paul Goodman descreveu no sistema de escolas públicas de Nova Iorque.
Quando os meios sociais ficam vinculados a organizações assim complicadas, torna-se extraordinariamente difícil e por vezes impossível fazer uma coisa simples diretamente, embora fazê-lo seja questão de bom senso e vá contar com aprovação geral, como quando nem o filho, nem o progenitor, nem o bedel, nem o diretor da escola podem retirar a trava de porta que está atrapalhando. [59]
Enquanto isso, “[u]m tipo antiquado de ferragem está especificado para todos os novos edifícios, mantido em produção apenas para o sistema de escolas de Nova Iorque.” [60] Você tem um Formulário 27-B?
Por outro lado, os subordinados não podem permitir-se contribuir com o conhecimento necessário para projeto de um processo eficiente de trabalho. É boa a analogia do “ladrão de estrada” de R.A. Wilson acima citada. Os trabalhadores veem os gerentes como assaltantes que usarão contra eles qualquer informação que obtenham. Gary Miller, em Dilemas Gerenciais, argumentou que a confiança era a característica mais distinta das empresas que faziam uso mais produtivo do capital humano. Citou obras de economistas comportamentais e de teóricos de jogos mostrando que as relações de confiança são construídas ao longo de interações repetidas, quando as partes sabem que lidarão uma com a outra no futuro. Ele usou a remuneração por peça como ilustração. No curto prazo, a gerência poderia ter incentivo racional para obter maior esforço mediante pagamento por peça fabricada, cortando, mais tarde, esse tipo de remuneração. No longo prazo, porém, só será possível extrair maior esforço se os trabalhadores confiarem em que a gerência não mudará as regras do jogo, prejudicando-os; caso contrário, a estratégia racional será, no caso dos trabalhadores, fugir das obrigações e evitar produzir acima da média. A gerência poderá extrair maior esforço por meio de medidas prolongadas de construção de confiança demonstrando não ter a intenção de expropriar os ganhos de produtividade decorrentes de maiores esforços. A gerência só conseguirá extrair investimento de esforço e de habilidade dos trabalhadores em favor da produtividade da empresa se lhes der direitos de propriedade de longo prazo na parcela deles dos ganhos de produtividade, com garantias fidedignas contra expropriação. E os relacionamentos de confiança sobre os quais repousa a disposição do trabalhador para investir em esforço e habilidade, para revelar seus conhecimentos ocultos, são todos extremamente frágeis e passíveis de fácil rompimento se a gerência trair essa confiança. [61] Relacionamentos de confiança penosamente construídos ao longo do tempo podem ser destruídos do dia para a noite pelo idiota típico com mestrado em administração de empresas que acha poder aumentar sua remuneração em opções de ações mediante demitir metade da força de trabalho.
Sob esse aspecto, a prática japonesa (pelo menos até recentemente) de oferecer garantias vitalícias de trabalho, e a segurança no emprego relativamente forte no Capitalismo de Consenso Estadunidense, não foram propriamente o estofo da “cultura de direitos assegurados” e de ineficiência que a direita sugere. Foram quase ideais para a gerência de capital humano como investimento de longo prazo, e para extrair os esforços, as habilidades e o conhecimento oculto da força de trabalho. Como Waddell e Bodek destacam, as pessoas “não trabalharão mais arduamente se a gerência tiver definido como meta final uma fábrica completamente automatizada, enquanto incursiona pela fábrica caçando empregos a eliminar e pessoas a demitir. As pessoas… não trabalharão mais arduamente para alguém que as tenha definido como custo variável.” [62] Quando os trabalhadores são definidos como custo variável, “criam segurança no emprego mediante darem um jeito de o trabalho nunca ser completado.” [63] Para mencionar apenas um exemplo, antes de uma fábrica da Range Rover no Reino Unido fazer promessa de emprego vitalício, no início dos anos 90, apenas 11% dos empregados entravam na competição anual de sugestões de empregados, por medo de o aumento de eficiência levar a demissões. Depois da garantia, a cifra subiu para 84%. E só uma dessas sugestões valeu para a empresa, em economia, um milhão de libras. [64]
Sanford Grossman e Oliver Hart oferecem base teórica para isso, argumentando que a atribuição de direitos de propriedade pela firma afeta a produtividade porque a atribuição de condição de requerente residual a uma parte reduz o incentivo da outra para investir na firma. A parte requerente residual “usará [seu] controle dos direitos residuais para obter fatia maior do excedente após excluídas as incertezas,” o que levará a parte sem direito residual a subinvestir. Portanto, os direitos residuais devem ser distribuídos de acordo com contribuições para a produtividade. [65] Dado que as ações, numa corporação típica, valem diversas vezes o valor contábil dos haveres físicos, e dada a enorme contribuição do capital humano para a produtividade, a implicação fica clara.
De acordo com Gary Miller, remuneração adequada serve não apenas como salário acima da média para reduzir rotatividade de capital humano como, também, extrai conhecimento oculto que de outra maneira poderia ser explorada sob forma de rents de informação. O problema é o relacionamento de soma zero entre gerência e trabalhadores:
Visto que os salários de subordinados são custos para o dono dos lucros residuais, a maximização do lucro pelo centro é um obstáculo à resolução eficiente do problema tanto da informação oculta quanto da ação oculta. O desejo dos donos de maximizar receitas deduzidos os pagamentos de salários para os membros da equipe continuamente os induz os a optar por esquemas de incentivo que estimulam fornecimento capcioso de informações estratégicas e métodos de produção ineficientes por parte dos subordinados….
O dilema central numa hierarquia é pois como restringir o interesse próprio daqueles com algo a ganhar ou perder no inevitável resíduo gerado por um sistema de incentivos eficiente…. Haverá disponível, para o dono, um conjunto de alternativas gerenciais que fará decrescer o tamanho total do bolo, aumentando contudo a fatia do dono nesse bolo….
…. Uma empresa ficará melhor se puder garantir a seus subordinados seguro “direito de propriedade” em dado plano de incentivos e o direito de controlar certos aspectos de seu ambiente de trabalho e ritmo de trabalho…. A segurança desses direitos de propriedade pode dar aos empregados motivo para fazer investimentos de tempo, energia e relacionamentos sociais que produzem crescimento econômico. [66]
Isso quase nunca acontece porque, como argumenta Miller, a gerência percebe como de seu interesse lançar-se à busca de interesses próprios mesmo a expensas da produtividade total da firma. Portanto os trabalhadores, no modelo padrão do capitalismo selvagem conduzido pelo mestre em administração de empresas, acaba essencialmente refletindo as estratégias dos camponeses de Zomia (ver a secção abaixo “Espaços Estatais e Não Estatais”), tentando minimizar sua legibilidade em relação à gerência e minimizar a probabilidade de aumento de produtividade resultante de seu conhecimento oculto ser usado contra eles ou expropriado. O conhecimento oculto — ou amealhado — dos trabalhadores é diretamente análogo aos tubérculos dos camponeses zomianos escondidos no subsolo para impedir confisco via incursões dos exércitos do estado.
Os rents que resultam de conhecimento privado detido por trabalhadores peritos, dado o relacionamento de soma zero entre gerência e trabalhadores, são barreira inaceitável impeditiva de apropriação do produto do trabalho.
O aumento do controle do processo de trabalho pela gerência, e portanto a apropriabilidade da produção — tornando a organização mais legível de maneira a aumentar o produto líquido apropriável — é a real agenda no cerne das estratégias de redução do nível de qualificação dos trabalhadores, como o taylorismo. Para repetir a metáfora de Miller, quando tendo opção entre eficiência e controle — entre um bolo maior e uma fatia maior de um bolo menor — a gerência usualmente prefere maximizar o tamanho de sua fatia em vez de o tamanho do bolo. Como Scott argumenta, o controle leva a melhor sobre a eficiência:
Como mostrou convincentemente a obra inicial de Stephen Marglin, o lucro capitalista requer não apenas eficiência mas a conjugação de eficiência e controle. As inovações cruciais da divisão do trabalho no nível de subproduto e a concentração da produção na fábrica representam os passos decisivos para colocar o processo de trabalho sob controle unitário. Eficiência e controle podem coincidir, como no caso da fiação e da tecelagem mecanizadas do algodão. Por vezes, porém, podem não estar relacionados e até ser contraditórios. “A eficiência, na melhor das hipóteses, cria um lucro potencial,” observa Marglin. “Sem controle o capitalista não tem como materializar tal lucro. Assim, pois, formas organizacionais que aumentem o controle capitalista poderão aumentar os lucros e ganhar o favor de capitalistas mesmo se afetarem adversamente a produtividade e a eficiência. Inversamente, maneiras mais eficientes de organizar a produção que reduzam o controle capitalista poderão acabar reduzindo os lucros e sendo rejeitadas pelos capitalistas.”
Quando a produção artesanal era mais eficiente, era “difícil para o capitalista apropriar-se dos lucros de uma população dispersa de artífices.” [67]
Na agricultura, do mesmo modo, “a mera eficiência de uma forma de produção não é suficiente para assegurar a apropriação de tributos ou lucros.”
A agricultura do pequeno proprietário independente poderá… ser o modo mais eficiente de plantar. Contudo, tais formas de agricultura, embora possam apresentar possibilidades para tributação e lucro quando seus produtos são juntados, processados e vendidos, são relativamente ilegíveis e difíceis de controlar. Como no caso de artesãos autônomos e lojistas pequeno-burgueses, monitorar os sucessos comerciais de peixes pequenos é um pesadelo administrativo. As possibilidades de evasão e resistência são numerosas, e o custo de conseguir dados precisos anuais é alto, se não proibitivo. [68]
A produção dispersa via métodos artesanais quase sempre representou obstáculo em relação a controle e apropriação. O objetivo do taylorismo era abolir o conhecimento oculto e os rents que o acompanhavam. O taylorismo era um modo pelo qual “o trabalho humano como sistema mecânico… podia ser decomposto em transferências de energia, movimento, e física do trabalho.” Essa “simplificação do trabalho em problemas isolados de eficiências mecânicas” facilitava “o controle científico de todo o processo de trabalho.” E controle científico significava legibilidade e expropriabilidade.
Para o gerente da fábrica ou o engenheiro, as novas linhas de montagem inventadas tornavam possível o uso de trabalho não qualificado e de controle sobre não apenas o ritmo de produção mas de todo o processo de trabalho. [69]
O gênio dos modernos métodos de produção em massa, Frederick Taylor, entendeu com grande clareza o problema de destruir mētis e de tornar uma população resistente, quase autônoma, de artesãos em unidades mais adequadas, ou “empregados de chão de fábrica.” “Na gerência científica… os gerentes assumem… o ônus de coletar todo o conhecimento tradicional que, no passado, era possuído pelos artífices e, em seguida, de classificar, tabular e reduzir esse conhecimento a regras, leis, fórmulas…. Assim, pois, todo o planejamento que, no antigo sistema, era feito pelos artífices precisa, inevitavelmente, ser feito pela gerência, em acordo com as leis da ciência.” Na fábrica taylorizada apenas o gerente da fábrica tinha o conhecimento e o comando do processo total, e o trabalhador era reduzido à execução de uma pequena, amiúde minúscula, parte do processo total.
Isso poderia, por vezes, resultar em aumento de eficiência, disse Scott — mas foi sempre “um grande benefício para o controle e o lucro.” [70]
O taylorismo não apenas tirou poder dos trabalhadores; tão importante quanto isso, deu poder aos gerentes e técnicos. Foi uma subespécie do que Scott chama de “ideologia altomodernista,” e mais especificamente de sua vertente estadunidense (o movimento Progressista do início do século 20, precursor direto do liberalismo de meados do século 20). O Progressismo e seu componente taylorista refletiam, e serviam como instrumento de legitimação de, o desejo de poder das classes gerenciais-profissionais de colarinho branco. A indústria deveria ser governada por um conjunto de “melhores práticas,” regras weberianas de trabalho, melhor conhecidas pelos especialistas no alto da hierarquia. E o regime de eficiência e racionalidade — o que Scott chama de “autoritarismo de régua de cálculo — substituiria o conflito de classes pela “colaboração de classes” mediante crescentes produção e racionalidade promovendo os interesses comuns de todos. [71]
Sob esse aspecto, o taylorismo dentro da corporação era um microcosmo da ideologia altomodernista do Progressismo na sociedade em geral.
As ideologias altomodernistas incorporam preferência doutrinária por certas formas de organização social… A maioria das preferências pode ser deduzida dos critérios de legibilidade, apropriação e centralização de controle. Na medida em que os arranjos institucionais possam ser facilmente monitorados e dirigidos a partir do centro e possam ser facilmente tributados (no mais amplo sentido de tributação), provavelmente serão fomentados. [72]
Esse conjunto de preferências é tão verdadeiro da gerência corporativa quanto do sistema político e social como um todo.
Se houve um apóstolo do modelo de meados do século 20 da organização industrial — o modelo associado à organização política-econômica chamada ou de “liberalismo corporativo” ou de “capitalismo de consenso” — foi Alfred Chandler.
Onde a tecnologia subjacente de produção permitiu, o aumento da produção-por-período-de-tempo [throughput] por meio de inovação tecnológica, o aperfeiçoamento do projeto organizacional e o aperfeiçoamento das habilidades humanas levaram a agudo decréscimo do número de trabalhadores necessários para produzir cada unidade produzida. A proporção de capital em relação aos trabalhadores, de materiais em relação aos trabalhadores e de gerentes em relação aos trabalhadores, para cada unidade produzida, tornou-se maior. Tais indústrias de alto volume logo se tornaram intensivas em termos de capital, energia e gerência. [73]
Suspeito, porém, de que tais métodos de produção em massa intensivos em termos de capital não eram tão eficientes em tantos casos quanto Scott imagina. Tais métodos, como ressaltado por autores que escreveram sobre produção enxuta como John Womack, ou William Waddell e Norman Bodek, tendem a ser mais eficientes em cada estágio individual da produção — minimizando o custo unitário de cada máquina específica e maximizando sua [?] — criando ao mesmo tempo aumento de custo mais do que anulador daquela economia, oriundo de estoque, overhead e marketing e distribuição em geral.
De qualquer forma, mētis e conhecimento disperso nunca podem ser completamente taylorizados a partir do processo de produção. Tentativas daqueles em posição de autoridade de minimizar a discricionariedade mediante redução das tarefas a rotinas padronizadas e previsão de todas as contingências possíveis em regras só podem redundar em séria degradação da eficiência, precisamente por ser impossível prever todas as contingências ou conceber regras gerais que não requeiram exceções diante de circunstâncias inesperadas.
O sonho utópico da taylorização — uma fábrica na qual todo par de mãos fosse mais ou menos reduzido a movimentos automáticos, à moda de robôs programados — era irrealizável. Não que isso não tenha sido tentado. David Noble descreveu a bem-financiada tentativa de fabrico de máquinas operatrizes por meio de controles numéricos porque isso prometia “emancipação em relação ao trabalhador humano.” O fracasso final aconteceu precisamente porque o projeto do sistema havia excluído mētis — os ajustes práticos que um trabalhador experiente faria para compensar pequenas mudanças em material, temperaturas, a fadiga ou irregularidades na máquina, mau funcionamento mecânico, e assim por diante. Como disse um operador, “Pretende-se que os controles numéricos sejam como mágica, mas tudo o que se consegue produzindo automaticamente é sucata.” Essa conclusão poderia ser generalizada. Numa brilhante etnografia das rotinas de trabalho de operadores de máquina cujas tarefas pareciam ter sido completamente destituídas de qualificação, Ken Kusterer mostrou como os trabalhadores, todavia, tiveram de desenvolver habilidades individuais as quais eram absolutamente indispensáveis para produção bem-sucedida, mas que nunca poderiam ser reduzidas a fórmulas que um novato pudesse usar imediatamente.
No incidente a que Scott aludiu, como descrito por Noble, “[o]s trabalhadores cada vez mais recusaram-se a tomar qualquer iniciativa”
— para fazer manutenção simples (tal como tirar fiapos do leitor de fita), ajudar a diagnosticar mau funcionamento, consertar ferramentas quebradas, e até evitar uma colisão. A taxa de produção de refugo disparou… juntamente com tempo de máquinas paradas, e baixo moral produziu as taxas mais altas de absenteísmo e rotatividade de pessoal. Tornou-se comum empregados ausentarem-se do local de trabalho e, sob constante assédio dos supervisores, os operadores desenvolveram engenhosos métodos secretos de manter alguma medida de controle do próprio trabalho, inclusive uso astuto de controles manuais interferentes no funcionamento automático de máquinas.
….A parte da fábrica com o equipamento mais sofisticado tornara-se a parte da fábrica com mais alta taxa de refugo, de rotatividade de pessoal, e de mais baixa produtividade…. [74]
Na verdade, as organizações hierárquicas dependem, para continuação de funcionamento, da disposição dos trabalhadores para tratar regras baseadas em autoridade como uma forma de irracionalidade e passar ao largo delas. Scott dá o exemplo da URSS, onde num congresso de especialistas em agricultura durante a perestroikade Gorbachev
houve quase unanimidade dos participantes na exasperação acerca do que três gerações haviam feito com as habilidades, a iniciativa e o conhecimento dos kolkhozniki…. Subitamente uma mulher de Novosibirsk os repreendeu: “Como vocês acham, para começo de conversa, que as pessoas do campo sobreviveram durante sessenta anos de coletivização? Se elas não tivessem usado sua iniciativa e sagacidade, não teriam chegado até aqui! [75]
Exatamente. Para nossos objetivos, a União Soviética pode ser tratada como um caso em que uma única corporação era dona de uma economia nacional inteira, com o Politburo como diretoria, a KGB como os sabotadores dos movimentos dos trabalhadores e os ministérios industriais como divisões de produção dentro de uma gigantesca estrutura de formato multidivisional. Pelo fato de a economia soviética inteira ser de propriedade de um único conglomerado, com barreiras autárquicas à competição vinda de fora, os únicos limites ao nível de ineficiência que ela podia tolerar eram estabelecidos pela necessidade de impedir colapso econômico ou político. Ou, para inverter a comparação, a grande corporação é um microcosmo da economia planificada soviética, na qual os trabalhadores usam sua iniciativa para contornar a irracionalidade burocrática imposta de cima.
A grande corporação tacitamente depende dos trabalhadores que desenvolvem meios de contornar e de desprezar regras irracionais para manterem a produção em andamento a despeito da gerência, do mesmo modo que o Ministério de Serviços Centrais, em Brazil, dependia de pessoas como Harry Tuttle. O desaparecimento do mercado paralelo e da atividade nalevo teria tido o mesmo efeito na URSS que uma greve tipo operação padrão numa corporação.
Scott escreve ser impossível, devido à natureza das coisas, toda pessoa implicada no processo de produção ser destilada, formalizada ou codificada em forma legível pela gerência.
…[A] ordem formal codificada nos projetos de engenharia social inevitavelmente deixa de fora elementos essenciais a seu funcionamento real. Se a fábrica [da Alemanha Oriental] fosse forçada a funcionar apenas dentro da raia dos papéis e funções especificados no projeto simplificado, rapidamente pararia. Economias de comando coletivizado praticamente em toda parte só conseguiram avançar mal e mal graças à amiúde desesperada improvisação de uma economia informal totalmente fora de sua representação diagramática.
Enunciado de forma um tanto diferente, todos os sistemas socialmente engendrados de ordem formal são, na verdade, subsistemas de um sistema maior do qual são, em última análise, dependentes, para não dizer parasitários. O subsistema depende de uma gama de processos — frequentemente informais ou antecedentes — que sozinho ele não consegue criar ou manter. Quanto mais esquemática, enxuta e simplificada a ordem formal, menos resiliente e mais vulnerável fica ela a perturbações externas a seus estreitos parâmetros….
É, acredito, característico de grandes sistemas formais de coordenação serem acompanhados de aparentes anomalias as quais, porém, quando inspecionadas mais de perto, revelam-se parte integrante daquela ordem formal. Grande parte disso poderia ser chamado de “mētis em operação de socorro….” Uma economia de comando formal… depende de comércio miúdo, escambo e acordos normalmente ilegais…. Em cada caso, a prática em desacordo com as normas é condição indispensável para a ordem formal. [76]
… Em cada caso, o necessariamente delgado, esquemático modelo de organização e produção social inspirador do planejamento era inadequado como conjunto de instruções para criação de uma ordem social bem-sucedida. Por si próprias, as regras simplificadas nunca conseguem gerar uma comunidade, cidade ou economia que funcione. A ordem formal, para ser mais explícito, é sempre e em algum grau considerável parasitária de processos informais, que o esquema formal não reconhece, sem os quais não conseguiria existir, e que sozinho não consegue criar ou manter. [77]
O mesmo é verdade, naturalmente, na “economia de comando coletivizado” da grande corporação ocidental. Bom exemplo é o conhecimento oculto de trabalhadores de central telefônica de um serviço público privatizado.
À medida que surgiram sucessivos problemas nos sistemas, ficou claro para a equipe que as pessoas que haviam projetado os sistemas tinham conhecimento inadequado do conteúdo do trabalho dos funcionários, achando ser ele muito menos complexo do que em realidade era. De certo modo ironicamente, a introdução de sistemas visantes a simplificar e padronizar o trabalho dos funcionários em realidade chamou a atenção dos funcionários para o fato de eles emprestarem à empresa determinado tipo de competência técnica que não pode facilmente ser escrito dentro de um programa de computador. Como observou um funcionário, “Cada secção envolvia conhecimento que tem de ser obtido pela experiência, que não pode ser embutido nos sistemas”…. Um funcionário de suprimento explicou:
…. Não acredito termos entendido, antes, o quanto a gerência depende do que nós conhecemos acerca do trabalho…. Ela supunha saber tudo o que nós fazíamos, dizia “Sabemos os procedimentos, temo-los por escrito.” Acredito ter sido forte choque para ela descobrir que não sabia, que o procedimento escrito não é necessariamente como a gente faz o trabalho, as descrições de tarefas não têm como abranger tudo.” [78]
E, desobediência formal à parte, a diferença entre o que Oliver Williamson chamou de “cooperação consumada” e apenas “cooperação perfunctória — distinção que gira em torno da contribuição ativa, pelo trabalhador, de seu conhecimento disperso ou mētis para o processo de produção, por oposição a fazer apenas o mínimo necessário para evitar ser demitido — faz enorme diferença para o nível de funcionamento de referido processo.
A cooperação consumada é uma atitude de trabalho afirmativa — de incluir o uso do discernimento, preencher lacunas, e tomar iniciativa de maneira fundamental. A cooperação perfunctória, em contraste, envolve desempenho de trabalho de tipo minimamente aceitável…. O resultado é que os trabalhadores, ao passarem a adotar um modo de desempenho perfunctório, ganham condições de “destruir” ganhos idiossincrásicos de eficiência. [79]
Como argumenta J. E. Meade, trata-se de simples comportamento de maximização de utilidade: Empregado assalariado “terá de observar o padrão mínimo de trabalho e esforço a fim de manter seu emprego; mas não terá motivo financeiro pessoal imediato… para comportar-se de modo que promova a lucratividade da empresa…. [Q]ualquer lucro extra devido a seu esforço extra será creditado, em princípio, ao empresário….” [80]
E conhecimento oculto significa, escreve Williamson, ser impossível “descobrir se os trabalhadores põem sua energia e inventividade no trabalho de maneira que possibilite ser plenamente materializada economia de custos específica de tarefas….” [81] Nas palavras de Paul Milgrom e John Roberts, “apenas o agente tem conhecimento da ação que praticou na persecução de seus próprios objetivos ou dos do chefe, ou apenas o agente tem acesso ao conhecimento específico no qual sua ação está baseada.” [82]
Os conceitos de Williamson de cooperação consumada e perfunctória estão implícitos nesta passagem de Hayek:
Conhecer e colocar em uso uma máquina não completamente empregada, ou a habilidade de alguém que poderia ser melhor utilizada, ou estar consciente de um excedente de estoque ao qual se possa recorrer durante uma interrupção do suprimento, é socialmente tão útil quanto o conhecimento de técnicas alternativas melhores. [83]
…. Será verdade que, uma vez tendo sido construída uma fábrica, o resto é mais ou menos mecânico, determinado pelo caráter da fábrica, ficando pouco por ser mudado na adaptação às sempre cambiantes circunstâncias do momento?
…. Numa indústria competitiva, de qualquer forma… a tarefa de impedir que os custos subam requer luta constante, absorvendo grande parte da energia do gerente. O quanto é fácil para um gerente eficiente dissipar os diferenciais sobre os quais repousa a lucratividade e o ser possível, com as mesmas facilidades técnicas, produzir com grande variedade de custos contam-se entre os lugares-comuns da experiência de negócios que não parecem ser igualmente encontradiços no estudo do economista. [84]
E Oliver Williamson escreveu, na mesma tecla, que “[q]uase todo trabalho envolve algumas habilidades específicas.”
Mesmo os mais simples trabalhos de guarda/manutenção são facilitados pela familiaridade com o ambiente físico específico do local de trabalho nos quais estejam sendo realizados. O funcionamento aparentemente rotineiro de máquinas padronizadas pode ser auxiliado, de modo importante, pela familiaridade com o equipamento operacional específico…. Em alguns casos os trabalhadores são capazes de prever o problema e diagnosticar sua origem graças a sutis mudanças no som ou cheiro do equipamento. Ademais, o desempenho em alguns empregos de produção ou de gerência envolve um elemento de equipe, e constitui habilidade crítica a capacidade de trabalhar eficazmente com os membros existentes da equipe…. [85]
A disposição da força de trabalho de cooperar consumadamente em vez de perfunctoriamente, de contribuir com seu conhecimento disperso, é possivelmente o principal fator determinante na amplitude potencial de custos de determinado conjunto de recursos técnicos. E o capital humano da empresa — conhecimento e repertório ocultos de habilidades específicas de tarefa dos quais a gerência raramente sequer tem conhecimento pelo fato de não haver como comunicá-los por meio de hierarquia, a rede de relacionamentos pessoais da qual a produção depende — é a fonte de grande parte do patrimônio de uma firma, e responde pela lacuna entre seu valor patrimonial e seu valor escriturado nos livros (isto é, o valor de mercado de seus haveres físicos). Nada obstante, como veremos adiante, a gerência, dentro das convenções da contabilidade sloanista, trata o trabalhador e suas habilidades como custo direto, em vez de haver de capital que custa dinheiro para substituir, e faz tudo o que pode para periodicamente dizimar seu capital humano.
Quando resolvem parar de escorar o sistema mediante desconsiderar suas regras irracionais os trabalhadors podem, com efeito, por meio de sua própria obediência, ficar imóveis e permitir que ele se destrua por meio de sua própria irracionalidade. Já vimos a descrição de David Noble de os trabalhadores retirarem sua cooperação consumada no caso de maquinário numericamente controlado. Mais geralmente, Scott destaca a greve tipo operação padrão como aplicação prática, do ponto de vista do trabalhador, da dependência da organização formal do sistema mais amplo de processos informais:
Numa ação de operação padrão… os empregados começam a executar suas atividades mediante observarem meticulosamente cada uma das regras e regulamentações, cumprindo apenas as obrigações enunciadas nas descrições de suas tarefas. O resultado, plenamente deliberado nesse caso, é que o trabalho para, ou pelo menos anda a passos lentos…. Na longa operação padrão contra a Caterpillar, a grande fabricante de equipamentos, por exemplo, os trabalhadores reverteram à observância dos ineficientes procedimentos especificados pelos engenheiros, sabendo que eles custariam à empresa valiosos tempo e qualidade, em vez de continuarem a usar as práticas mais rápidas e eficazes que havia longo tempo tinham concebido para as atividades. Basearam-se na assunção testada de que trabalhar estritamente de acordo com as normas é necessariamente menos produtivo do que trabalhar com iniciativa. [86]
Infelizmente, trabalhadores que tentam degradar a eficiência da produção mediante trabalhar de acordo com as regras poderão descobrir que não conseguem competir com a gerência. A prática de redução corporativa de pessoal para reduzir custos [downsizing] em anos recentes tem equivalido a destruição sistemática — pela gerência! — do conjunto de processos informais do qual a produtividade da organização depende.
David Jenkins, em 1973, argumentou que os “[a]dmiráveis resultados de curto prazo” conseguidos pelo downsizing geralmente acontecem ao preço de “uma catástrofe no longo prazo.”
Tal conduta, diz [Rensis] Likert, é estimulada por sistemas empresariais de recompensa que “permitem a um gerente que seja um ‘artista da pressão’ obter altos ganhos em poucos anos, enquanto destrói lealdades, atitudes favoráveis, motivações cooperativas etc. entre os membros supervisores e não supervisores da organização.”….
O que acontece nesses casos, com efeito, é recursos valiosos estarem sendo descartados, e estar sendo dado impulso artificial de curto prazo aos ganhos. Nenhuma gerência concordaria com tratamento assim desdenhoso em relação a haveres físicos…. Como os recursos humanos não aparecem na folha de balanço, podem ser destroçados à vontade por gerentes voltados para “os finalmente” …para efeito de uma injeção espúria nos ganhos. [87]
Duas décadas depois, durante a onda de downsizing dos anos 1990, Kim Cameron arrolou os problemas que normalmente resultavam do downsizing:
…(1) perda de relacionamentos pessoais entre empregados e clientes; (2) destruição de confiança e lealdade entre empregados e clientes; (3) ruptura de rotinas tranquilas e previsíveis na firma; (4) aumento de formalização (dependência de regras), estandardização, e rigidez; (5) perda de conhecimento interunidades e interníveis que advém de longevidade e interações ao longo do tempo; (6) perda de conhecimento acerca de como reagir a aberrações fora da rotina enfrentadas pela firma; (7) decréscimo de documentação e portanto menos compartilhamento de informação acerca de mudanças; (8) perda de produtividade do empregado; e (9) perda de cultura organizacional comum. [88]
Alex Markels cita consultor de gerência dizendo que, em ocorrendo downsizing, “uma empresa tem gravemente afetado seu progresso por causa de perda de ‘conhecimento e capacidade de tomada de decisões acertadas adquiridos ao longo dos anos.’” [89]
Bom exemplo é a prática de contratação na área de varejo. Há quarenta anos o pessoal de vendas em lojas de roupas e sapatos era geralmente formado de empregados de carreira que ganhavam salário suficiente para viver, e que conheciam os gostos dos clientes e as linhas de produtos por dentro e por fora. Daquela época em diante, os donos de lojas substituíram aqueles empregados de carreira por trabalhadores de salário mínimo egressos do curso médio.
Esse foi essencialmente o desempenho de Bob Nardelli, do Home Depot – HD, pelo qual ganhou $210 milhões de dólares na rescisão de contrato. De acordo com Tom Blumer, do BizzyBlog, o meio pelo qual Nardelli aumentou os ganhos de curto prazo envolveu o seguinte:
A consolidação que ele fez da função de compras e de muitas outras funções em Atlanta, a partir de diversas regiões, levou compradores a perderem contato com as pessoas que vendiam para eles….
A demissão de pessoas com conhecimento e experiência em favor de novatos desinformados e empregados em tempo parcial reduziu grandemente os custos de folha de pagamento e de benefícios, mas no final fez a empresa perder clientes, e deu à empresa reputação altamente merecida de desempenho medíocre. [90]
Nardelli e seus subordinados manipularam toda contabilidade, aquisição e esquemas de meia-sola que puderam para manter os números parecendo bons, enquanto deixavam os negócios deteriorarem-se. [91]
Desde então fiquei sabendo que Nardelli, nos últimos meses antes de ir-se, tirou a função de compras inteiramente para fora de Atlanta e a transferiu para… a Índia — dentre todas as possibilidades de terceirização estrangeira.
Dizem-me que “sem contato” nem começa a descrever o quanto as coisas estão ruins agora entre as lojas do HD e Compras, e entre Compras do HD e os fornecedores.
Não apenas há uma barreira de dialeto linguístico como, também, as pessoas que trabalham em compras na Índia não conhecem a “língua” dos equipamentos estadunidenses — e nem sabem sequer como é a metade dos produtos que lojas e fornecedores descrevem.
Dizem-me que incrível quantidade de tempo, dinheiro e energia está sendo gasta — tudo em nome do que era, de toda verossimilhança, meta alimentada por recompensas para corte de pessoal e para fazer as despesas gerais e administrativas parecerem baixas (“parecerem” baixas porque as despesas foram empurradas para baixo para as lojas e fornecedores). [92]
Essa prática foi parodiada em Rei da Colina na pessoa do adolescente com cara coberta de espinhas e vestindo guarda-pó azul do “Megalo-Mart,” que não se fazia a menor ideia de onde Hank poderia encontrar um martelo. Infelizmente, não se tratou, em realidade, de uma paródia. Já vi isso com meus próprios olhos no departamento de jardinagem da Lowe’s. A resposa invariável do pessoal a pedido de qualquer ajuda para achar um produto é algo como “Não sei. Acho que se o senhor não está vendo, é porque não tem.”
Esse tipo de diminuição deliberada da competência dos trabalhadores de serviços a expensas da qualidade, para transferir recursos para cima, tirando-os da equipe de apoio ao cliente em favor dos salários e bônus do Executivo Principal, só pode ocorrer numa área na qual a competição em qualidade de serviços ao cliente tenha sido suprimida pela cartelização. Quando o mercado é controlado por um punhado de firmas oligopolistas gigantescas com a mesma cultura disfuncional, as firmas podem permitir-se serviço reles e de meia-tigela.
Como mencionado anteriormente, tudo isso reflete a métrica sloanista pela qual a gerência corporativa superior mensura custo e eficiência, em termos aproximados comparável à métrica pela qual os integrantes do Gosplan tentavam gerir a economia soviética.
Ludwig von Mises argumentou, em Burocracia, que a hierarquia corporativa enquanto tal não era uma burocracia em sentido estrito. A burocracia, necessariamente, era uma gerência baseada em regras, com processos definidos ao longo de linhas weberianas, em vez de gerência baseada no lucro, por não produzir nenhum produto comercializável e por sua produção não ter preço de mercado. A grande empresa comercial, por outro lado, era — graças ao milagre da escrituração por partidas dobradas — uma extensão da vontade do empresário. O empresário podia rastrear os lucros e prejuízos de cada subdivisão e atuar de acordo com os dados para transferir o investimento de uma divisão para outra e disciplinar ou substituir gerentes. [93] Isso equivalia a um reflexo da abordagem neoclássica de tratar a firma como ator unitário no mercado e seu funcionamento interno como caixa preta.
A ênfase de Mises quanto à natureza empresarial da corporação negligencia diversos fatos. Primeiro, o preço de transferência interno da corporação equivale ao proposto pelo socialista de mercado Oskar Lange, que Mises desqualificou como “dando uma de capitalista.” Pelo fato da maioria dos bens intermediários produzidos por uma firma — componentes de produto e coisas que tais — serem específicos de produto, não há mercado externo para eles. Portanto, os preços de transferência internos têm de ser estimados indiretamente, em base de acréscimo sobre o custo, muito longe de quaisquer preços reais de mercado — exatamente do mesmo modo que os planejadores econômicos soviéticos dependiam indiretamente de informações de preços de mercado das economias ocidentais para estabelecer seus próprios preços. [94]
Segundo, a gerência das grandes corporações típicas não é formada, de facto, por servos contratados do empreendedor ou investidor. No mundo real, lutas entre representantes/procuradores quase sempre fracassam, tomadas hostis tornaram-se raras desde que a gerência desenvolveu contramedidas nos anos 1980, e a maior parte do investimento novo — em contraste com fusões e aquisições — é financiada internamente por meio de ganhos retidos. Em realidade, o acionista é apenas outra classe de requerente contratual com direito a que dividendo a gerência considerar adequado emitir (se considerar) e a participar do ritual vazio da reunião de acionistas. O real requerente residual, pelo menos em grandes “corporações consumadas” de propriedade do público onde a propriedade das ações é difusa, é a gerência superior. Na prática, a gerência de tais corporações é uma oligarquia que se autoperpetua, em controle de massa livremente flutante de capital sem dono — de modo muito parecido com a gerência burocrática da antiga URSS. Assim, a gerência superior, como os gerentes da fábrica socialista de Lange, está “dando uma de empresária” — fazendo jogos de azar com capital para o qual não contribui a partir de seus próprios esforços do passado, e não correndo o risco de prejuízos pessoais, tendo por outro lado a possibilidade de ganhar muito dinheiro se a aposta der certo.
Terceiro, não existe métrica politicmente neutra ou imaculada, seja a “escrituração por partidas dobradas” ou o que mais seja. As funções de processamento de informação de uma hierarquia amiúde tolhem a agregação de conhecimento disperso — na corporação, tanto quanto no estado. A métrica de eficiência, lucro e prejuízo numa grande corporação reforça os interesses da gerência. No modelo dominante de contabilidade gerencial sloanista, como descrito por William Waddell e Norman Bodek, o trabalho é praticamente o único custo direto variável que a gerência tenta minimizar. Custos administrativos como salários da gerência, overhead geral, custos de armazenamento de estoque etc., são tratados como custos diretos fixos. Maximizar o retorno sobre o investimento – ROI de cada estágio da produção, mediante maximizar o fluxo e minimizar as horas diretas de trabalho é praticamente a única medida de corte de custos considerada. Salários da gerência e outros custos administrativos, desembolsos desperdiçadores ou irracionais de capital etc. não contam porque, como overhead, são incorporados (pelo milagre da “absorção de overhead”) aos preços de transferência de bens acabados que são “vendidos” ao estoque. E, na contabilidade sloanista, o estoque é um haver líquido que se acresce ao valor escriturado da empresa — mesmo que não haja encomendas dele e ele acabe tendo o preço baixado e sendo vendido com prejuízo, ou até baixado como de venda impossível. Essa prática equivale a “aumentar os números mediante varrer o overhead para baixo do tapete e para dentro do estoque.” [95]
Assim, a despeito do fato de os salários e benefícios dos trabalhadores de produção representarem normalmente dez por cento ou menos do custo unitário total, sistematicamente vemos mestres em administração de empresas – MBA obsessivamente manejando a peneira para eliminar todo segundo livre de trabalho direto — enquanto deixam passar batido overhead oriundo de custos administrativos e buracos de ratazanas de gastos de capital em quantidade oceânica. [96] Os custos administrativos da corporação e a organização de estilo Rube Goldberg tipicamente parecem-se com aqueles do Ministério de Serviços Centrais de Brazil, e a alocação de investimentos em fábricas e equipamentos físicos tipicamente assemelham-se ao desenvolvimento irregular de uma economia centralizadamente planificada.
Os investimentos irracionais de capital na grande corporação guardam semelhança com as predições de Mises relativas ao planejamento sob o socialismo de estado — isto é, “envolveriam operações o mérito das quais não poderia nem ser previsto antecipadamente nem ser aferido depois de terem ocorrido.” [97] Como Richard Ericson disse dos regimes comunistas, a corporação tem como realizar grandes feitos de engenharia sem considerar o custo.
Quando o sistema persegue um poucos objetivos prioritários, independentemente dos sacrifícios ou prejuízos em áreas de menor prioridade, os responsáveis últimos não têm como saber se alcançar o sucesso valeu a pena. [98]
Vejo regularmente exemplos disso no hospital onde trabalho. O dinheiro é despejado em expansões multimilionárias da Sala de Emergência, e em reformas de andares inteiros que alteram radicalmente os leiautes — limitadas apenas pela presença de paredes mestras — de maneiras que os tornam menos funcionais. A gerência adquire maquinário enormemente dispendioso como o robô cirúrgico Da Vinci, e expande seu leque de procedimentos dispendiosos de alta tecnologia tais como cateterismo cardíaco — tudo em busca de valor de prestígio público — enquanto faz cortes na equipe de enfermagem e transforma as alas de cuidados aos pacientes em pocilgas infectas e com falta de pessoal de atendimento, levando os custos decorrentes de quedas e de estafilococos áureos resistentes à meticilina para as alturas.
Em suma, a alocação interna de capital na grande corporação segue um padrão muito parecido com a descrição de Hayek da economia planificada do socialismo de estado:
Não há motivo para esperar que a produção pare, ou que as autoridades tenham dificuldade em usar os recursos disponíveis de alguma forma, ou mesmo que a produção seja permanentemente menor do que era antes do início da planificação…. [Devemos esperar] é o desenvolvimento excessivo de algumas linhas de produção a expensas de outras e o uso de métodos inadequados consideradas as circunstâncias. Devemos esperar encontrar superdesenvolvimento de algumas indústrias a um custo não justificável pela importânica do aumento de sua produção e ver incontida a ambição do engenheiro de aplicar os mais recentes progressos alhures, sem considerar se economicamente adequados face à situação. Em muitos casos o uso dos métodos mais recentes de produção, que não poderiam ter sido aplicados sem planejamento centralizado, seria então sintoma de mau uso do recursos em vez de prova de sucesso.
Um exemplo que ele cita — “a excelência, do ponto de vista tecnológico, de algumas partes do equipamento industrial russo, que amiúde impressiona o observador superficial e é comumente vista como evidência de sucesso” — é diretamente comparável ao acima mencionado robô Da Vinci. [99]
O problema que Hayek descreve é complicado pelo fato de a própria “produção” ser uma métrica sem sentido nessas circunstâncias. Na “absorção de overhead” sloanista, do mesmo modo que no planejamento centralizado soviético, o sistema de preços de transferência internos baseado no consumo de insumos, e o repasse de custos para o consumidor via margem acrescida ao custo, significa que qualquer consumo de insumos que possa ser incorporado ao “preço” dos bens acabados — na acepção da palavra — é produção.
Os atores dominantes de um mercado oligopolizado podem ficar impunes em relação a todas essas formas de irracionalidade — a supressão de tecnologias mais novas e eficientes, a desqualificação da força de trabalho e a substituição de mētis por techne porque os grandões compartilham da mesma cultura organizacional.
A Arte de Não Ser Governado: Espaços Estatais e Não Estatais.
O que Scott chama de “espaços estatais e espaços não estatais” é o tema central de A Arte de Não Ser Governado. Os espaços estatais, escreveu Scott em Vendo Como um Estado, são regiões geográficas com população de alta densidade e agricultura de grãos de alta densidade, “produzindo um excedente de grãos… e de trabalho de apropriação relativamente fácil pelo estado.” As condições dos espaços não estatais eram exatamente o inverso, “daí limitando severamente as possibilidade de apropriação fidedigna pelo estado.” [100]
Essa poderia ter servido como a sentença resumidora de seu livro seguinte, A Arte de Não Ser Governado. Na verdade, de acordo com Scott, [101] Vendo Como um Estado foi em realidade uma ramificação da pesquisa que por fim levou a A Arte de Não Ser Governado. A linha original de investigação dele era “compreender por que o estado sempre pareceu ser inimigo das ‘pessoas que se locomovem’….” Em seus estudo das “perenes tensões entre, de um lado, povos móveis das colinas, de agricultura de corte e queimada, de um lado, e reinos dos vales encharcados produtores de arroz, de outro,” juntamente com diferentes tipos de nômades e de escravos foragidos, Scott foi desviado para um estudo da legibilidade como motivo das políticas estatais de sedentarização. Havendo desenvolvido esse tópico, voltou a seu foco original em A Arte de Não Ser Governado.
Nesse livro posterior, Scott vistoria as populações de “Zomia,” as áreas altas que se estendem pelos países do Sudeste Asiático, as quais se situam, em grande parte, fora do alcance dos governos da região. Ele sugere pontos em comum entre os zomianos e pessoas em áreas não estatais em todo o mundo, povos de terras altas e de fronteira como os cossacos, habitantes das terras altas escocesas e “caipiras” estadunidenses, povos nômades tais como ciganos e itinerantes escoceses/irlandeses, e comunidades de escravos foragidos em regiões pantanosas inacessíveis do sul dos Estados Unidos.
Os estados tentam maximizar a apropriabilidade de colheitas e de trabalho delimitando o espaço estatal de maneira a “garantir, para o governante, excedente substancial e fidedigno de mão de obra e de grãos a custo o mais baixo possível…” Isso é conseguido por meio de concentração geográfica da população e uso de formas concentradas, de alto valor, de cultivo, a fim de serem minimizados o custo de governar a área e bem assim os custos de transação de apropriação de trabalho e de produtos da terra. [102] Os espaços estatais tendem a abranger grandes “áreas-cernes” de grande produção concentrada de grãos “a poucos dias de marcha a partir do centro da corte,” não necessariamente contíguas ao centro mas pelo menos “relativamente acessíveis a autoridades e soldados oriundos do centro via estradas ou águas navegáveis.” [103] As áreas governáveis são principalmente áreas de produção agrícola de alta densidade ligadas ou por terreno plano ou por cursos de água. [104]
O espaço não estatal é inversão direta do espaço estatal: “repele o estado,” isto é, “representa um cenário agroecológico singularmente desfavorável às estratégias amealhadoras de mão de obra e de grãos dos estados. Os estados “hesitarão em incorporar tais áreas, visto que o retorno, em mão de obra e grãos, provavelmente será menor do que os custos administrativos e militares de apropriação.” [105]
Quanto maior a dispersão das plantações, mais difícil é coletar sua produção, do mesmo modo que uma população dispersa é mais difícil de sequestrar. Na medida em que tais plantações sejam parte do portfólio de um produtor usuário da técnica de corte e queimada, nesse grau revelar-se-ão fiscalmente estéreis para estados e predadores e julgadas “não pagar a pena” ou, em outras palavras, constituirão espaço não estatal. [106]
Os espaços não estatais beneficiam-se de diversas formas de “fricção/atrito” que aumentam os custos de transação de apropriação do trabalho e da produção, e da extensão do alcance do braço impositor do estado até tais regiões. Essas formas de fricção incluem a fricção da distância107 (equivalente a um tributo incidente sobre a distância para o controle centralizado), a fricção do terreno ou da altitude, e a fricção do tempo sazonal.108 No tocante a essa última, por exemplo, a população local poderá “esperar pelas chuvas, quando as linhas de suprimento se rompem (ou são mais fáceis de ser rompidas) e a guarnição terá de optar entre morrer de fome ou retirar-se.” [109]
Em Zomia, como Scott descreve:
Praticamente tudo concernente ao meio de vida, organização social e ideologias dessas pessoas …pode ser visto como posicionamentos estratégicos projetados para manter o estado à distância. A dispersão física delas em terreno acidentado, a mobilidade delas, suas práticas agrícolas, sua estrutura de relacionamento familiar, suas identidades étnicas maleáveis e sua devoção a líderes proféticos, de índole milenária, servem, com efeito, para impedir a incorporação em estados e para impedir que estados se lancem sobre elas. [110]
Para evitar tributos, trabalho recrutado e conscrição, praticavam a “agricultura de escape: formas de cultivo concebidas para impedir apropriação pelo estado.” Analogamente, sua estrutura social “estava projetada para facilitar dispersão e autonomia e para proteger contra subordinação política.” [111]
Sugiro que os conceitos de “espaço estatal” e “espaço não estatal,” se removidos do contexto espacial imediato de Scott e aplicados, por analogia, a esferas da vida social e econômica mais ou menos dúcteis para efeito de controle estatal, podem ser úteis para nós nos tipos de sociedades ocidentais onde, de toda aparência, não existem espaços geográficos situados além do controle do estado.
Os espaços estatais em nossa economia são setores estreitamente aliados do e legíveis pelo estado. Os espaços não estatais são aqueles difíceis de monitorar e onde as regulamentações são difíceis de ser feitas cumprir. Os espaços estatais, especificamente, estão associados a formas legíveis de produção. Nas economias ocidentais, os setores econômicos mais legíveis pelo e mais estreitamente aliados do estado são aqueles dominados pelas largas corporações nos mercados oligopolizados.
De modo geral o estado guarda forte afinidade com formas de produção organizadas centralizadamente. No caso da agricultura, escreve Scott:
Na agricultura, como na indústria, a mera eficiência de uma forma de produção não é suficiente para assegurar a apropriação de tributos e lucros. A agricultura do pequeno proprietário independente pode, como já observamos, ser a forma mais eficiente de cultivar muitas lavouras. Tais formas de agricultura, porém, embora possam apresentar possibilidades de tributação e lucro quando seus produtos são ajuntados, processados e vendidos, são relativamente ilegíveis e difíceis de controlar. Como no caso de artífices autônomos e lojistas pequeno-burgueses, o monitoramento das fortunas comerciais de pequenas propriedades rurais é um pesadelo administrativo. As possibilidades para evasão e resistência são numerosas, e o custo de obtenção de dados anuais precisos é alto, se não proibitivo.
Um estado preocupado principalmente com apropriação e controle considerará a agricultura sedentária preferível ao pastorialismo ou à agricultura itinerante. Pelos mesmos motivos, tal estado geralmente preferirá a grande propriedade à pequena e, por seu turno, a plantação maciça ou a agricultura coletiva a ambas aquelas…. Embora a coletivização e a agricultura de plantio maciço raramente sejam muito eficientes, representam… as mais legíveis e pois apropriáveis formas de agricultura. [112]
O estado guarda afinidade similar com a grande forma corporativa em geral, e não apenas em agricultura, de acordo com Benjamin Darrington. Se a grande corporação depender, para sua sobrevivência, do estado, este — mesmo à parte o fato de ser ele próprio em grande parte composto de representantes da classe corporativa dominante — tem interesse racional em promover a grande corporação como forma econômica dominante.
Grandes firmas centralizadamente organizadas facilitam a tarefa do governo de manter sua posição hegemônica na sociedade. A capacidade do governo de regulamentar eficazmente a economia depende da existência de instituições econômicas com estruturas organizacionais que possam ser facilmente monitoradas e controladas. A regulamentação de grande número de pequenas empresas requer maior duplicação de esforços para fiscalizar registros financeiros, assegurar obediência às normas, e coletar tributos. É mais difícil punir pequenas organizações por não cooperarem com a lei porque elas têm menos valor total para ser confiscado e os proprietários mais provavelmente combaterão o governo visto ser deles o dinheiro e a empresa diretamente em jogo, para não mencionar o fato de as pequenas empresas gozarem de maior estima junto à população do que corporações aparentemente sem face e distantes. O equipamento usado pelas pequenas empresas não se presta facilmente a certificação, regulamentação e testes de segurança, e o trabalho empregado não favorece fiscalização/repressão eficaz no tocante a leis concernentes a coisas tais como negociações trabalhistas, salário mínimo, licenciamento profissional, quotas raciais e sexuais, exigências de cidadania, horas máximas de trabalho etc. Relações informais e econômicas de pequena escala situam-se quase além do âmbito dos esforços do governo para fazer cumprir seus éditos e para coletar tributos. Mediante tornar a empresa agente de política o estado também cria útil bode expiatório para desviar a ira do público voltada para a iniquidade e exploração das relações econômicas existentes e cria condições para o estado atuar como “cavaleiro do bem” protetor do público e vingador das perversidades e excessos da “empresa privada.” [113]
Os mesmos efeitos conseguidos por meio de distância e isolamento espaciais e os altos custos do transporte físico na Zomia de Scott podem ser logrados em nossa economia, sem toda a inconveniência, por meio de expedientes tais como criptografia e uso de darknets. Recentes progressos tecnológicos expandiram drasticamente o potencial para versões não espaciais, não territorialmente sediadas dos espaços não estatais que Scott descreve. As pessoas podem retirar-se do espaço estatal por meio da adoção de tecnologias e métodos de organização que as tornam ilegíveis para o estado, sem qualquer movimento real no espaço.
Tais tecnologias e métodos de organização incluem moedas eletrônicas tais como Ripple e Bitcoin como meio de trocas em economias darknet, os “phyles” de Daniel de Ugarte (sociedades civis distribuídas que oferecem plataformas redeadas para apoio a empresas de negócios, mecanismos de certificação e reputacionais, serviços de arbitramento e adjudicação, serviços de seguros e jurídicos etc.), e a “Economia como Serviço de Software” de John Robb. [114]
No domínio da produção física, novas tecnologias de microfabricação oferecem potencial sem precedentes para escape da imposição dle patentes industriais e outras barreiras estatais similares à entrada no mercado. No caso da indústria tradicional de produção em massa, os custos de transação de fiscalizar/reprimir no tocante a patentes foram diminuídos por um estado de coisas no qual um punhado de fabricantes oligopolistas de uma área cartelizada havia passado a produzir leque limitado de produtos competidores (amiúde restringindo ainda mais a competição entre os produtos mediante consórcio ou troca de patentes entre eles próprios), comercializando suas linhas limitadas de produtos por meio de um punhado de varejistas com cadeias nacionais. Quando o equivalente a $10.000 dólares de ferramentas de controle numérico por computador – CNC numa fábrica de garagem consegue produção comparável à de uma fábrica de um milhão de dólares, em pequenos lotes distribuídos por meio de mercados de bairro, os custos de transação de suprimir cópias piratas disparam — exatamente no mesmo momento em que a economia de abundância destrói a base tributária do estado usada para imposição/exação.
Outras tecnologias acessíveis a produção caseira de pequena escala, juntas com trocas informais via rede de escambo, oferecem novo potencial para microempresas sediadas em casa, de baixo overhead — por exemplo micropadarias caseiras usando forno comum de cozinha, serviços de táxi usando carro da família etc. — para evasão do zoneamento, licenciamento, códigos de “saúde” e de “segurança” locais.
Os custos de transação de superar a opacidade e a ilegibilidade, e de impor obediência numa atmosfera de não obediência, funcionam como um tributo, tornando alguns “espaços” (isto é, setores ou áreas da vida) mais dispendiosos de governar do que valem. Scott argumenta que, para um governante, a métrica relevante não é o PIB, e sim o “Produto Acessível pelo Estado” (PAE). Quanto maior a distância de uma área em relação ao centro, maior terá de ser a concentração de valor ou a relação valor monetário/peso de uma unidade de produção para que a apropriação e o transporte para a capital valham a pena. Quanto mais longe do centro estiver uma área, maior será a parcela de sua economia que custará mais do que vale a pena explorar.115 É algo de certa forma análogo ao conceito de EROEI [energia retornada em relação a energia investida] na área de energia; se a intenção do estado é extrair um excedente em benefício de uma classe privilegiada, o “tributo de governança” reduz o montante do excedente extraído por insumo de esforço para fiscalizar/reprimir.
Qualquer coisa que reduza a “EROEI” do sistema, o tamanho do excedente líquido que o estado consegue extrair, levá-lo-á a encolher-se para uma escala de equilíbrio de atividade menor. Quanto maior for o custo de fiscalizar/reprimir e menor a receita que o estado (e seus aliados corporativos, como no caso de fazer cumprir a lei de copyright digital ou reprimir a pirataria chinesa) possa obter por unidade de esforço de fiscalizar/reprimir, mais vazio tornar-se-á o sistema capitalista de estado ou corporatista e de mais áreas da vida ele se retirará, considerando-as não valerem o custo de governar.
Nossa estratégia, ao atacarmos a capacidade de fiscalizar/reprimir do estado como ponto fraco do capitalismo de estado, deve ser criar espaços não estatais metafóricos tais como as darknets, bem como formas de produção física de escala pequena demais e demasiado dispersas para valerem custos de fiscalização e repressão sérios, desse modo alterando a correlação de forças entre “espaços” não estatais e estatais.
De nosso ponto de vista, as tecnologias de libertação reduzem o custo e a inconveniência da evasão. Na obra de Scott, para as pessoas que vivem em espaços estatais, quanto mais trabalho elas tiverem enterrado em seus campos ao longo de gerações, mais relutantes estarão em sair a fim de escapar da tributação do estado.116 Em Zomia, “não ser governado” frequentemente envolvia adotar “estratégias de subsistência voltadas para escapar de detecção e maximizar a mobilidade física para o caso de ser forçado a fugir de novo de um momento para o outro.” Isso podia envolver real sacrifício em qualidade de vida, em termos das categorias de bens que não poderiam ser produzidos, das categorias de alimentos que se tornariam indisponíveis, etc.117 Historicamente, quando não ser governado requeria distância espacial e inacessibilidade, criar um espaço não estatal significava uma escolha de tecnologias de vida baseada na necessidade de ser menos legível. Em muitos casos isso se traduzia em “abandonar cultivo fixo para adotar agricultura itinerante e cata de comida,” a escolha deliberada de estilo de vida mais “primitivo” para efeito de autonomia, e a escolha consciente de métodos de cultivo menos produtivos e de excedente menor. [118]
Para dizê-lo em termos ocidentais, as tecnologias libertadoras agora oferecem o potencial para eliminação da necessidade desse compromisso entre autonomia e padrão de vida. Desejamos tornar-nos tão ingovernáveis quanto o povo de Zomia, sem a inconveniência de viver nas montanhas e charcos ou de viver em grande parte comendo raízes. Quanto mais áreas da vida econômica forem tornadas ilegíveis para o estado por meio de tecnologia de libertação, menor o diferencial de padrão de vida entre áreas estatais e não estatais.
Scott nomeia a mobilidade como seu “segundo princípio de evasão.” Mobilidade, “a capacidade de mudar de localização,” torna uma sociedade inacessível por meio do expediente de “mudar para local mais remoto e vantajoso.” É “uma capacidade relativamente não atritiva de mudar de lugar….” [119] Em termos de nossos análogos “espaços não estatais” não espaciais nas sociedades ocidentais, isso se reflete na agilidade, resiliência e flexibilidade das redes.
Diferentemente da corporação e do estado, que requerem laborioso processamento de informação e de propostas através de uma hierarquia burocrática, a organização em rede facilita a adoção quase instantânea de novas informações e técnicas onde for útil. As redes eliminam os custos administrativos e outros custos de transação envolvidos em levar ideias àqueles que possam beneficiar-se delas.
Muitos pensadores do código aberto, remontando a Eric Raymond em A Catedral e o Bazar, já assinalaram a natureza dos métodos de código aberto e de organização em rede como multiplicadores de força. [120] As comunidades de projeto de código aberto tomam as inovações dos membros individuais e rapidamente as distribuem para onde forem necessárias, com o máximo de economia. Essa é uma característica da organização stigmérgica que consideramos anteriormente.
Esse princípio está em ação no movimento do compartilhamento de arquivos, como descrito por Cory Doctorow. Inovações individuais tornam-se imediatamente parte do repositório comum de inteligência, universalmente disponíveis para todos.
Levante sua mão se você estiver pensando em algo como, “Mas a gestão de direitos digitais – GDD não tem de ser prova contra atacantes geniais, só contra indivíduos médios!…”
… Não tenho de ser um cracker para vazar sua GDD. Só preciso saber como pesquisar no Google, ou Kazaa, ou qualquer outra máquina de pesquisa de propósito geral em busca do código descriptografado que alguém mais talentoso do que eu já extraiu. [121]
No passado, as estratégias das empresas para impedimento de cópias eram do tipo: “Tornaremos mais fácil comprar uma cópia destes dados do que fazer uma cópia não autorizada deles. Desse modo, apenas as classes de uber-sabichões e de pobres de dinheiro/ricos de tempo se darão ao trabalho de copiar em vez de comprar.” Toda vez, porém, que um PC é conectado à Internet e seu dono aprende a usar ferramentas de pesquisa como Google (ou Baía dos Piratas), surge uma terceira opção: basta baixar uma cópia da Internet….. [122]
Bruce Schneier descreve isso como a automação reduzindo o custo marginal de compartilhar inovações.
A automação também permite que classes novas de ataques se propaguem rapidamente, por ser requerida menos especialização. O primeiro atacante é o especialista; todo mundo mais pode seguir cegamente as instruções dele. Tomemos como exemplo a fraude da TV por cabo. Nenhuma das empresas de TV por cabo se importará muito se alguém construir um receptor de cabo em seu porão e assistir televisão por cabo ilicitamente. Construir tal dispositivo requer tempo, perícia e algum dinheiro. Mesmo se alguém construir uns poucos e os vender, isso não terá muito impacto.
E se, porém, essa pessoa conceber uma nova forma de ataque à televisão por cabo? E se o novo tipo de ataque exigir que alguém pressione alguns botões numa caixa de conversão de cabo em certa sequência para obter televisão por cabo de graça? Se essa pessoa publicar essas instruções na Internet, poderá aumentar o número de clientes não pagantes em milhões e afetar de maneira significativa a lucratividade da empresa. [123]
As insurgências de código aberto, ou organizações de guerra de quarta geração, tais como descritas por John Robb, são rapidamente adaptáveis porque qualquer contribuição individual, ou qualquer informação adotada por uma única célula (por exemplo um projeto melhorado de dispositivo explosivo improvisado – IED ou de estratégia para sua colocação desenvolvida por uma célula da Al Qaeda Iraque) rapidamente se torna disponível para a rede inteira sem qualquer intermediação administrativa.
A descentralizada, e aparentemente caótica guerra de guerrilha no Iraque põe à mostra um padrão que provavelmente servirá como modelo para os terroristas da próxima geração. Esse padrão revela um nível de aprendizado, atividade e sucesso similar ao que vemos na comunidade de software de código aberto. Chamo esse padrão de o bazar. O bazar resolve o seguinte problema: como redes pequenas, potencialmente antagônicas, podem conjugar-se para conduzir a guerra? Lições do livro de Eric Raymond “A Catedral e o Bazar” oferecem um ponto de partida para análise ulterior. Eis aqui alguns fatores que se aplicam (da perspectiva dos guerrilheiros):
* Libere logo e frequentemente. Tente novas formas de ataque contra diferentes tipos de alvos logo e frequentemente. Não espere até conseguir um plano perfeito.
* Dado um grupo suficientemente grande de codesenvolvedores, qualquer problema difícil será visto como óbvio por alguém. No final algum participante do bazar descobrirá um jeito de subverter algum alvo particularmente difícil. Tudo o que você precisará fazer será copiar o processo que ele usou.
* Seus codesenvolvedores (testadores beta) são seu recurso mais valioso. As outras redes de guerrilheiros do bazar são seus aliados mais valiosos. Eles acrescentarão inovações a seus planos, pulularão em volta dos pontos fracos que você identificar e protegerão você criando ruído de sistema. [124]
A rápida inovação em Dispositivos Explosivos Improvisados (IED) conseguida por redes de guerra de código aberto no Iraque e no Afeganistão é um caso ilustrativo. [125] Qualquer inovação desenvolvida por uma célula específica da Al Qaeda do Iraque, se bem-sucedida, é rapidamente adotada pela rede inteira.
No movimento de compartilhamento de arquivos, não é bastante que a gestão de direitos digitais – DDD seja suficientemente difícil de burlar para dissuadir o usuário médio. As fendas [cracks] desenvolvidas por aficcionados em computador [geeks] para burlar a GDD tornam-se rapidamente parte do repositório comum de recursos. CDs e DVDs craqueados por um geek hoje ficam disponíveis de graça num site torrent para download amanhã por qualquer usuário médio que saiba como usar o Google.
Considerem este exemplo prático da agilidade e responsividade do Bazar em funcionamento, de Thomas Knapp:
Durante a reunião de cúpula do G-20 na área de Pittsburgh, na semana passada, a polícia deteve dois ativistas. Esses ativistas, especificamente, não estavam quebrando vitrines. Não estavam incendiando carros. Não estavam sequer desfilando balançando bonecos gigantes e entoando slogans anticapitalistas.
Na verdade, estavam num num quarto de hotel em Kennedy, Pennsylvania, a milhas de distância dos protestos “não sancionados” em Lawrenceville … ouvindo rádio e aproveitando-se da conexão sem fio Wi-Fi do hotel. Agora estão sendo acusados de “dificultar detenção de outras pessoas, uso criminoso de recurso de comunicação e posse de instrumentos de crime.”
A rádio que eles estavam ouvindo era (alegadamente) um escaneador da polícia. Estavam (alegadamente) usando seu acesso à Internet para divulgar boletins acerca dos movimentos da polícia em Lawrenceville para ativistas que participavam dos protestos, usando o Twitter….
O governo, tal como o conhecemos, está engajado numa batalha por sua própria sobrevivência, e essa batalha, como já mencionei, parece-se muito, em aspectos fundamentais, com a luta da Associação da Indústria de Gravação dos Estados Unidos – RIAA contra as redes ponto-a-ponto [entre pares, par-a-par] de “compartilhamento de arquivos”. A RIAA pode exercer — e está exercendo — a repressão mais dura de que é capaz, de todas as maneiras que consegue conceber, mas está perdendo a luta e simplesmente não há cenário plausível no qual possa esperar terminar vitoriosa. A indústria da gravação, como a conhecemos, ou mudará seu modelo de negócios ou será extinta.
Os Dois de Pittsburgh são esplendidamente análogos ao pessoal da P2P. A detenção deles acaba equivalendo, para todos os intentos e propósitos, a uma sessão pública de depuração de programa. Os Dois de Pittsburgh 2.0 montarão suas estações de monitoramento mais longe do local da ação (atravessando linhas jurisdicionais), usarão um sistema de relés para trazer a informação a tais estações de maneira tempestiva, e depois retransmitirão essa informação usando servidores proxies [‘procuradores’] estrangeiros anonimizadores. Os policiais não chegarão sequer a 50 milhas dos Dois de Pittsburgh 2.0, e o que fizerem para contrapor-se à eficácia deles será por sua vez anulado em versões seguintes. [126]
Dois outros exemplos relativamente recentes são o uso do Twitter no Condado de Maricopa para alertar a comunidade latina de incursões do Xerife Joe Arpaio e para alertar motoristas acerca de barreiras montadas para controle do cumprimento da lei seca. [127]
Robb usa a expressão “superatribuição individual de poder” para descrever a mudança radical no equilíbrio de recursos entre um e [ou] alguns indivíduos[, de um lado,] e as grandes organizações hierárquicas tradicionais[, do outro]. A revolução do desktop teve enorme efeito em toldar a distinção em qualidade entre trabalho feito dentro de grandes organizações e o feito por indivíduos em casa. O indivíduo tem acesso a amplo espectro de infraestruturas antes só disponível por meio de grandes organizações. Como escreve Felix Stalder:
Há vasta quantidade de infraestrutura — transporte, comunicação, financiamento, produção — abertamente disponível que, até recentemente, só era acessível a organizações muito grandes. Agora são precisas relativamente poucas pessoas — umas poucas pessoas dedicadas e com conhecimento — para conectar essas partes numa poderosa plataforma a partir da qual agir. [128]
O resultado, nas palavras de Robb: “a capacidade de um só indivíduo de fazer aquilo que só podia ser feito, há poucas décadas, por uma grande empresa ou órgão do governo…” [129] A guerra de código aberto “capacita indivíduos e grupos a enfrentar inimigos de porte muito maior,” visto
o poder dos indivíduos e pequenos grupos ser ampliado via acesso a redes abertas (que aumentam de valor de acordo com a lei de Metcalfe = Crescimento da Internet + redes sociais correndo em paralelo) e tecnologia posta à venda normalmente (que aumenta rapidamente de poder devido ao paroxismo do cumprimento da lei de Moore e à implacável produtização do mercado). [130]
As economias de agilidade são análogas ao princípio do âmbito militar — nas palavras de Saxe — de que a vitória tem a ver com pernas, mais do que com braços/armas [trocadilho em inglês: arms significa tanto ‘braços’ quanto ‘armas’]. As insurgências de código aberto de Robb são uma forma de guerra assimétrica — e há motivo para esta ser chamada de “assimétrica.” Um lado é muito maior do que o outro, e muito mais forte pela métrica convencional de força militar. Quando Golias supera numericamente Davi em dez para um, e Davi combate usando as táticas convencionais de Golias, Golias geralmente vence cerca de sete vezes em dez. Quando Davi adota técnicas não convencionais que exploram os pontos fracos de Golias, Davi vence seis vezes em dez. E o Bazar é local incomparável para facilitar o rápido e disseminado compartilhamento de conhecimentos acerca dos pontos fracos de Golias e a adoção das táticas mais eficazes para visar tais fraquezas. [131]
A organização em rede e o projeto de código aberto conseguem resiliência a partir de redundância e de modularidade. O projeto modular é uma forma de extrair mais benefício de cada dólar em pesquisa e desenvolvimento – R&D mediante a maximização do uso de dada inovação ao longo da ecologia de um produto inteiro, construindo ao mesmo tempo redundância no sistema por meio de peças intercambiáveis. [132]
Como se costuma dizer, a Internet trata a censura como prejuízo, e passa ao largo dela. Redes muitos-para-muitos conseguem contornar qualquer nodo específico que seja fechado. Quando o Napster foi fechado, seus sucessores reagiram mediante eliminar sua dependência de servidores centrais. O sequestro dos nomes de domínio do Wikileaks resultou na proliferação global de sites-espelhos e provocadora linkagem direta com seus endereços numerados IP.
Já discutimos a extração mais eficiente de produção a partir de insumos na economia alternativa, como matéria de pura necessidade. Isso, juntamente com maiores velocidade e agilidade, é um tremendo multiplicador de forças.
A economia alternativa geralmente faz uso melhor e mais eficiente das tecnologias que a economia capitalista de estado desenvolveu para seus próprios propósitos. [Fazendo uso de projeto modular] Incrível quantidade de inovação resulta de mesclas de tecnologias baratas à venda que podem ser modularizadas e misturadas e combinadas para qualquer objetivo. De acordo com Cory Doctorow,
Não é que toda invenção já tenha sido inventada, mas seguramente temos muitas peças básicas por aí, só esperando para ser configuradas. Pegue um semicondutor programável FPGA de $200 dólares e você poderá gravar seus próprios microchips. Arraste e solte alguns códigos-objetos em torno de você e poderá gerar algum software para executar naqueles. [133]
Murray Bookchin, em Anarquismo Pós-Escassez, previu o mesmo princípio há quase quarenta anos:
Suponhamos que, há cinquenta anos, alguém tivesse proposto um dispositivo capaz de fazer um automóvel seguir uma linha branca no meio da estrada, automaticamente e mesmo que o motorista pegasse no sono…. Teriam rido dele, e sua ideia teria sido chamada de descabida…. Suponhamos, porém, que alguém hoje dissesse precisar desse dispositivo, e estar disposto a pagar para tê-lo, deixando de lado a questão de se ele teria qualquer uso genuíno que fosse. Certo número de empresas se disporia a receber a encomenda e atendê-la. Não seria necessária qualquer invenção real. Há milhares de jovens do sexo masculino no país para os quais o projeto de tal dispositivo seria um prazer. Eles simplesmente comprariam algumas fotocélulas, tubos termiônicos, servomecanismos, relés e, se instados, fabricariam o que chamam de um modelo placa de ensaio, e funcionaria. A questão é que a presença de uma porção de engenhocas versáteis, fidedignas e baratas, e a presença de homens que conhecem todos os modos baratos de usá-las tornaram a fabricação de dispositivos automáticos quase direta e rotineira. Não mais se trata de se é possível fabricá-las, é questão de se vale a pena fabricá-las. [134]
Scott contra o Mercado.
Na Introdução de Vendo Como um Estado, Scott expressa alguma preocupação com seu livro vir a ser visto, à luz do colapso do bloco soviético e o desaparecimento do socialismo de estado e do planejamento de estado como ideologia viável, como, em grande parte, irrelevante. Ele destaca que “o capitalismo de larga escala é um agente de homogeneização, uniformidade, enquadramento e simplificação heroica tanto quanto o estado,” e implicitamente iguala a “politicamente desimpedida coordenação do mercado” de Hayek a “capitalismo de larga escala e padronização impulsionada pelo mercado.” [135]
Scott boamente admite que alguma destruição de mētis é desejável, resultando do progresso tecnológico. Fora antiquários com interesse puramente histórico, ninguém lamenta o desaparecimento do recurso consistente em lavagem de roupa mediante uso de pedras ou de tábua de lavar roupa, depois de as máquinas de lavar terem-se tornado disponíveis — especialmente aqueles que tinham de lavar roupa à moda antiga. Scott porém nega que toda destruição de mētis seja desse tipo. “A destruição de mētis e sua substituição por fórmulas padronizadas só legíveis a partir do centro está praticamente insculpida nas atividades tanto do estado quanto no capitalismo burocrático de larga escala.” [136] E, como sugerido anteriormente, em seu uso da obra de Marglin acerca da desqualificação de empregados, a destruição de mētis é impelida pela necessidade de tornar a corporação internamente mais legível e controlável, e portanto para tornar o produto do trabalho mais apropriável.
O problema é que Scott faz pouca distinção entre o “capitalismo burocrático de larga escala,” de um lado, e o mercado enquanto tal.
Ele comenta de modo direcionado acerca da “curiosamente retumbante unanimidade a respeito deste ponto [isto é, problemas de cálculo no planejamento centralizado socialista], e não a respeito de outros, entre críticos direitistas da economia de comando como Friedrich Hayek e críticos esquerdistas do autoritatismo comunista como o Príncipe Peter Kropotkin” (ênfase minha). [137] O “não a respeito de outros,” presumivelmente, é uma estocada na cegueira de Hayek para o fato de fracasso semelhante de planejamento explicar a incerteza e a complexidade dentro do “capitalismo burocrático de estado.” Mesmo quando a crítica de Hayek do planejamento centralizado do estado coincide com a do próprio Scott, o reconhecimento deste de que Hayek estava correto — até o ponto em que o fez — é de má vontade. Havendo descrito, com aparente — embora resmungadora — aprovação a percepção da “economia política liberal” de que “a economia era complexa demais para algum dia chegar a ser gerida em detalhe por uma administração hierárquica,” [138] ele comenta sarcasticamente numa nota de rodapé que Hayek era “o queridinho dos que se opunham ao planejamento pós-guerra e ao estado assistencialista.” [139]
Interessante que Brad DeLong, num exame de Vendo Como um Estado, estrutura as alternativas quase da mesma forma que Scott (isto é, “processos impulsionados pelo mercado são tão nocivos à liberdade humana quanto o alto modernismo liderado pelo estado”). Apenas que, para DeLong, “processos impulsionados pelo mercado,” embora essencialmente equivalentes a capitalismo corporativo, são uma boa coisa.
Como pode a padronização impulsionada pelo mercado ter as mesmas consequências dos comandos de arquitetos que nunca residiram nas cidades que projetam, ou que a coletivização da agricultura soviética, ou que a “vilaização” forçada dos camponeses tanzanianos?
Isso não é claro.
“…[Q]uando olhamos para o capitalismo burocrático moderno de larga escala,” continua ele, “vemos em toda parte aquilo que Scott chama de ‘metis’.”. [140]
O notável aqui é que DeLong concorda com Scott em que os “tomates de borracha(*)” são um exemplo de “padronização impulsionada pelo mercado,” e em que o que Scott chama de “capitalismo burocrático de larga escala” ser essencialmente o mercado. A diferença é que DeLong trata-os como exemplo positivo da ordem espontânea do mercado e vê tal capitalismo burocrático de larga escala como amigável em relação a mētis. As pessoas compram tomates de borracha, diz ele, porque eles são mais baratos — requerem menos trabalho para ser cultivados. (* A expressão me era desconhecida. Depois de muita pesquisa, entendo ser referência aos tomates da agricultura industrial/estandardizada, capazes de sofrer quedas da carreta que os transporta na estrada sem se estragarem, mas também sem nutrientes e sem sabor. Algumas das referências que encontrei: http://www.grist.org/industrial-agriculture/2011-06-20-the-indignity-of-industrial-tomatoes-florida http://www.cato-unbound.org/2010/09/24/tim-lee/of-hayek-and-rubber-tomatoes/ http://delong.typepad.com/delong_economics_only/2007/10/rubber-tomato-b.html )
Nunca ocorre a nenhum dos dois que o “capitalismo burocrático de larga escala” e as patologias que cria — tal como o tomate de borracha — têm mais ou menos tanto a ver com mercados genuínos quanto tinha o estado altomodernista de Lênin. O que quer que pensemos de maciços subsídios para estradas que reduzem o custo relativo de embarcar hortifrutigranjeiros por meio de grandes carretas, ou do acesso de larga escala a água de irrigação subsidiada, é difícil discordar de eles mudarem o equilíbrio da agricultura local apoiada pela comunidade e da fazenda de produção de verduras para o mercado em favor do agronegócio de larga escala. E esse não é exatamente um fenômeno de “livre mercado”.
E Scott em particular negligencia o potencial de aplicação de análise do livre mercado a uma crítica do capitalismo corporativo — isto é, “usar as ferramentas do senhor para demolir a casa do senhor” — e a real existência de uma cepa diversa de versões socialistas ou anticapitalistas de análise do livre mercado. Conceitos de livre mercado genuíno oferecem enorme potencial de reutilização como armas contra o neoliberalismo e a dominação corporativa. Há importante conjunto de obras, no amplo espectro que inclui a ala amigável em relação ao mercado do socialismo clássico e a ala esquerda do liberalismo clássico, que trata escassez artificial, direitos artificiais de propriedade e privilégio como sendo a causa fundamental da exploração econômica. Tais pensadores incluem Thomas Hodgskin, que é convencionalmente inserido entre os socialistas ricardianos mas foi figura influente no liberalismo clássico precoce;141 Henry George, com suas teorias do rent da terra; o inicial, esquerdista, Herbert Spencer (cujos mentores incluem Hodgskin); anarquistas de Boston como Benjamin Tucker (o dos Quatro Monopólios);142 o georgista Franz Oppenheimer (responsável pela distinção entre “meios econômicos” e “meios políticos” para a riqueza);143 pensadores como Albert Jay Nock e Ralph Borsodi,144 que desenvolveram as ideias econômicas de George e de Oppenheimer no contexto do capitalismo industrial estadunidense; e o anarquista individualista R.A. Wilson, que viu o privilégio como o fator distintivo entre capitalismo e mercados verdadeiramente livres.
Conclusão.
Vimos como os principais conceitos de Scott — legibilidade e opacidade, mētis, espaços estatais e não estatais — samblam-se e relacionam-se um com o outro. Todos eles refletem um tema subjacente comum: os conflitos de interesse e as contradições sociais criados pela autoridade.
O poder, ou a autoridade, cria um conflito de interesses fundamental. Do mesmo modo que o problema do conhecimento oculto e da ação oculta — os problemas de informação e de ação de uma hierarquia corporativa — resulta do conflito de interesses criados pelo poder, a autoridade do estado cria um conflito de interesses no qual os cidadãos têm interesse em tornarem-se tão opacos quanto possível. O poder, seja numa hierarquia corporativa ou numa sociedade governada por um estado, é uma forma de externalizar custos para os outros e apropriar-se das vantagens para si próprio.
O estado e a classe dominante que o controla têm interesse em maximizar sua extração de rents e de tributos, mesmo ao custo de tornar a sociedade menos produtiva em sentido absoluto, do mesmo modo que a gerência de uma corporação tem interesse em maximizar seus salários e benefícios a expensas da produtividade geral. Os que se encontram em posição de autoridade, em ambos os casos, tentam estruturar a instituição ou sociedade como um todo de maneira a maximizarem a legibilidade dela e o montante líquido absoluto de riqueza extraída — mesmo ao custo de eficiência subótima. E o povo de uma sociedade governada pelo estado, do mesmo modo que os trabalhadores de produção de uma corporação, fazem o melhor que podem para tornarem-se opacos em relação a seus superiores e reduzirem sua vulnerabilidade à extração de riqueza — mesmo ao custo de usarem técnicas menos produtivas.
Em todos os casos, o poder distorce o fluxo de informação e o incentivo para produzir tão eficientemente quanto possível. A existência de pessoas em autoridade que existem num relacionamento de soma zero economicamente com aqueles de quem extraem rents, seja no estado ou na hierarquia que governa as instituições, cria incentivo para os que estão abaixo minimizarem sua legibilidade (e portanto a extratividade de rents) em relação aos que estão acima. Cria incentivo para estruturarem sua atividade produtiva de maneira a minimizar a extratividade de rents, mesmo ao custo de produzir menos eficientemente. Num relacionamento de soma zero, os produtores — tanto quanto os parasitas — têm incentivo para maximizar o tamanho de sua fatia do bolo a expensas do tamanho do bolo como um todo.
Em suma a autoridade, longe de ser a solução para a guerra de todos contra todos, é a causa dela. E, ao sê-lo, destrói racionalidade, conhecimento, e cooperação.
Estudo original publicado por Kevin Carson em 26 de maio de 2011.
Traduzido do inglês por Murilo Otávio Rodrigues Paes Leme.
* * *
Notes:
[1] James Scott, Vendo Como um Estado (New Haven e Londres: Imprensa da Universidade de Yale, 1998), p. 2.
[2] Ibid., p. 24.
[3] Ibid., p. 378n11.
[4] Michel Foucault, Disciplina e Punição: O Nascimento da Prisão, Traduzido por Alan Sheridan, 1977. Edição Second Vintage (Nova Iorque: Vintage Press, 1995), p. 143.
[5] Ibid., p. 144.
[6] Ibid., p. 145.
[7] Ibid., pp. 170-171.
[8] Ibid., p. 172.
[9] Ibid., p. 173.
[10] Ibid., p. 201.
[11] Ibid., p. 291.
[12] E. P. Thompson, “Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial,” Passado e Presente 37 (1968): pp. 56-97.
[13] Ibid., p. 85.
[14] Ibid., p. 90.
[15] Ibid., pp. 81-82.
[16] Ibid., p. 90.
[17] Scott, Vendo Como um Estado, pp. 311, 320.
[18] Ibid., p. 313.
[19] Ibid., p. 329.
[20] Ibid., pp. 315-316.
[21] Ibid., pp. 311-312.
[22] Friedrich Hayek, “O Uso do Conhecimento na Sociedade,” Individualismo e Ordem Econômica (Chicago: Imprensa da Universidade de Chicago,1948), pp. 77-78.
[23] Ibid., p. 80.
[24] Ibid., pp. 83-84.
[25] Michael Polanyi. Conhecimento Pessoal: Rumo a uma Filosofia Pós-Crítica (University of Chicago Press, 1958).
[26] Scott, Vendo Como um Estado, p. 313.
[27] Ibid., p. 314.
[28] Alex Pouget, “Misterioso ‘ruído neural’ em realidade prepara o cérebro para desempenho máximo,” EurekAlert, 10 de novembro de 2006 <http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-11/uor-mn111006.php>.
[29] Scott, Vendo Como um Estado, p. 331.
[30] Ibid., p. 429n65.
[31] Ibid., p. 324.
[32] Carson, Teoria da Organização: Uma Perspectiva Libertária (Booksurge, 2008), p. 475.
[33] Todos esses conceitos são discutidos na primeira secção do Capítulo Sete em meu livro A Revolução Industrial Gestada em Casa:Um Manifesto de Baixo Overhead (CreateSpace, 2010).
[34] Scott, Vendo Como um Estado, p. 305.
[35] Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, Socialismo, e Democraccia (Nova Iorque e Londres: Publicadora Harper & Brothers, 1942), pp. 100-101.
[36] John Kenneth Galbraith, Capitalismo Estadunidense: O Conceito de Poder Compensatório (Boston: Houghton Mifflin, 1962), pp. 86-88.
[37] Harvey Leibenstein, “Eficiência Alocativa versus Eficiência X,’” Revista Econômica Estadunidense 56 (Junho 1966); Barry Stein, Porte, Eficiência e Empresa Comunitária (Cambridge: Centro para Desenvolvimento Econômico Comunitário, 1974).
[38] Paul Goodman, Pessoas ou Pessoal, em Pessoas e Pessoal e Como uma Província Conquistada (New York: Vintage Books, 1963,1965), p. 58.
[39] Walter Adams e James Brock, O Complexo de Tamanho: Indústria, Trabalho e Governo na Economia Estadunidense. Segunda edição (Stanford: Imprensa da Universidade de Stanford, 2004), pp. 48-49.
[40] Mark J. Green, Beverly C. Moore, Jr., e Bruce Wasserstein, O Sistema de Empresa Fechada: Estudo de Grupo de Ralph Nader acerca de Fazer Cumprir o Antitruste (Nova Iorque: Publicadora Grossman, 1972), pp. 254-256.
[41] James C. Scott, Dominação e a Arte da Resistência: Transcrições Ocultas (New Haven e Londres: Imprensa da Universidade de Yale, 1990).
[42] R. A. Wilson, “Treze Corais para o Divino Marquês,” de Coincidance – A Head Test (1988) <http://www.deepleafproductions.com/wilsonlibrary/texts/raw-marquis.html>.
[43] Michel Bauwens, “A Economia Política da Produção por Pares,” Ctheory.net, 1o. de dezembro de 2005 <http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=499>.
[44] Robert Shea e Robert Anton Wilson, O Illuminatus! Trilogia (New York: Dell Publishing, 1975), p. 388.
[45] Ibid., p. 498.
[46] Kenneth Boulding, “A Economia do Conhecimento e o Conhecimento de Economia,” Revista Econômica Estadunidense 56:1/2 (March 1966), p. 8.
[47] Citado em Hazel Henderson, “Para Lidar Com Choque Organizacional Futuro,” Criação de Futuros Alternativos: O Fim da Economia (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1978), p. 225.
[48] Scott, Vendo Como um Estado, pp. 6-7.
[49] Robert Chambers, A Realidade de Quem Conta? Colocação do Primeiro em Último Lugar (London: Intermediate Technology Publications, 1997), p. 15.
[50] Ibid., p. 30.
[51] Ibid., p. 31.
[52] Ibid., p. 31.
[53] Ibid., p. 32.
[54] Ibid., p. 76.
[55] Scott, Vendo Como um Estado, p. 314.
[56] Martha S. Feldman e James G. March, “Informação em Organizações como Sinal e Símbolo,” Ciência Administrativa Trimestral 26 (abril 1981).
[57] Matthew Yglesias, “Duas Visões do Capitalismo,” Yglesias, 22 de novembro de 2008 <http://yglesias.thinkprogress.org/2008/11/two_views_of_capitalism/>.
[58] Bruce Schneier, Além do Medo: Pensamento Sensato Acerca de Segurança num Mundo Incerto (New York: Copernicus Books, 2003), p. 133.
[59] Goodman, Pessoas ou Pessoal, p. 88.
[60] Ibid., p. 52.
[61] Gary Miller, Dilemas Geranciais: A Economia Política da Hierarquia (Nova Iorque: Imprensa da Universidade de Cambridge, 1992), pp. 201-202.
[62] William Waddell e Norman Bodek, O Renascimento da Indústria Estadunidense (Vancouver: PCS Press, 2005), p. 158.
[63] Ibid., p. 169.
[64] John Micklethwait e Adrian Wooldridge, Os Médicos Feiticeiros: Como Entender os Gurus da Administração (Nova Iorque: Livros Times, 1996), p. 209.
[65] Sanford J. Grossman e Oliver D. Hart, “Custos e Benefícios da Condição de Proprietário: Uma Teoria da Integração Vertical e Lateral,” Jornal de Economia Política 94:4 (1986), pp. 716-717.
[66] Miller, Dilemas Gerenciais, pp. 154-155, 157.
[67] Scott, Vendo Como um Estado, p. 336.
[68] Ibid., pp. 337-338.
[69] Ibid., p. 98.
[70] Ibid., pp. 336-337.
[71] Ibid., p. 99.
[72] Ibid., p. 219.
[73] Alfred D. Chandler, Jr., A Mão Visível: A Revolução Gerencial na Empresa Estadunidense (Cambridge e Londres: Imprensa Belknap da Imprensa da Universidade de Harvard, 1977), p. 241.
[74] David F. Noble, Forças de Produção: História Social da Automação Industrial (Nova Iorque: Alfred A. Knopf, 1984), p. 277.
[75] Scott, Vendo Como um Estado, p. 350.
[76] Ibid., pp. 351-352.
[77] Ibid., p. 310.
[78] Julia O’Connell Davidson, “As Fontes e Limites de Um Serviço Público Privatizado,” em J. Jermier e D. Knight, eds., Resistência e Poder nas Organizações (Londres: Routledge, 1994), pp. 82-83.
[79] Oliver Williamson, Mercados e Hierarquias, Análise e Implicações Antitruste: Estudo nas Economias de Organização Interna (Nova Iorque: Imprensa Livre, 1975), p. 69.
[80] J.E. Meade, “A Teoria das Firmas Geridas por Trabalhadores e de Compartilhamento de Lucros,” em Jaroslav Vanek, ed., Autogerência: Libertação Econômica do Homem (Hammondsworth, Middlesex, Inglaterra: Penguin Education, 1975), p. 395.
[81] Williamson, Mercados e Hierarquias, p. 69.
[82] Paul Milgrom e John Roberts, “Uma Abordagem Econômica para Influenciar Atividades nas Organizações,” Jornal de Sociologia Estadunidense, suplemento ao vol. 94 (1988), p. S155.
[83] Hayek, “O Uso do Conhecimento na Sociedade,” p. 80.
[84] Ibid., p. 82.
[85] Williamson, Mercados e Hierarquias, pp. 62-63.
[86] Scott, Vendo como um Estado, pp. 310-311.
[87] David Jenkins, Poder do Emprego: Democracia de Colarinho Azul e Branco (Garden City, Nova Iorque: Doubleday & Company, Inc., 1973), p. 237.
[88] Kim S. Cameron, “Downsizing, Qualidade e Desempenho,” em Robert E. Cole, ed., A Morte e a Vida do Movimento de Qualidade Estadunidense (Nova Iorque: Imprensa da Universidade de Oxford, 1995), p. 97.
[89] Alex Markels e Matt Murray, “Chamem Isso de Estupidisizing: Por Que Algumas Empresas Arrependem-se do Corte de Custos,” Wall Street Journal, 14 de maio de 1996 <http://www.markels.com/management.htm>.
[90] Tom Blumer, “Para Desarmar os Defensores de Nardelli Parte I,” BizzyBlog, 8 de janeiro de 2007 <http://www.bizzyblog.com/2007/1/08/disarming-nardellis-defenders-part-1/>.
[91] Blumer, “Para Desarmar os Defensores de Nardelli Parte 3,” BizzyBlog, 8 de janeiro de 2007 <http://www.bizzyblog.com/2007/1/08/disarming-nardellis-defenders-part-3/>.
[92] Comentário de Blumer abaixo de Kevin Carson, “Cálculo Econômico na Comunidade Corporativa, Parte II: Hayek vs. Mises acerca de Conhecimento Distribuído (Excerto),” Blog Mutualista: Anticapitalismo de Livre Mercado, 16 de março de 2007 <http://mutualist.blogspot.com/2007/03/economic-calculation-in-corporate.html>.
[93] Ludwig von Mises, Burocracia. Editado e com Prefácio de Bettina Bien Greaves (Imprensa da Universidade de Yale, 1944: renovado por Liberty Fund, 1972; Edições Editoriais Liberty Fund, 2007).
[94] Ver Capítulo Sete (“Cálculo Econômico na Comunidade Corporativa: A Corporação Enquanto Economia Planificada”)
[95] Ver Waddell e Bodek, pp. 135-140, 143.
[96] Voltando aos Noventa, David Noble disse que os custos do trabalho situavam-se normalmente em torno de 10% do custo unitário total nas indústrias de metalurgia, em comparação com 35% de overhead. Mas 75% do esforço de corte de custos pela gerência dirigiam-se para cortar trabalho, em comparação com 10% para cortar overhead. Noble, Progresso Sem Pessoas: Nova Tecnologia, Desemprego e a Mensagem de Resistência (Toronto: Entre as Linhas, 1995), p. 105.
[97] Ludwig von Mises, Socialismo: Análise Econômica e Sociológica. Traduzido por J. Kahane. Nova edição, ampliada por um Epílogo (New Haven: Imprensa da Universidade de Yale, 1951). [Procure o número da página.]
[98] Richard Ericson, “A Economia Clássica de Tipo Soviético: Natureza do Sistema e Implicações para Reforma,” Jornal de Perspectivas Econômicas 5:4 (1991), p. 21.
[99] Friedrich Hayek, “Cálculo Socialista II: O Estado e o Debate (1935),” em Hayek, Individualismo e Ordem Econômica (Chicago: Imprensa da Universidade de Chicago, 1948), pp. 149-150.
[100] Scott, Vendo Como um Estado, p. 186.
[101] Ibid., pp. 1-2.
[102] James C. Scott, A Arte de Não Ser Governado: História Anarquista das Terras Altas do Sudeste Asiático (New Haven & Londres: Imprensa da Universidade de Yale, 2009), pp. 40-41.
[103] Ibid., p. 53.
[104] Ibid., p. 58.
[105] Ibid., p. 178.
[106] Ibid., p. 196.
[107] Ibid., p. 51.
[108] Ibid., p. 61.
[109] Ibid., p. 63.
[110] Ibid., x.
[111] Ibid., p. 23.
[112] Scott, Vendo Como um Estado, p. 338.
[113] Benjamin Darrington, “Economias de Escala Criadas pelo Governo e Especificidade de Capital” Paper apresentado na Conferência dos Acadêmicos Estudantes Austríacos, 2007 (Por favor veja o link no original deste artigo; se inserido aqui, ele distorce a tabela.)
[114] Daniel de Ugarte, Phyles: Democracia Econômica no Século XXI <http://deugarte.com/gomi/phyles.pdf>; “Phyles,” P2P Foundation Wiki <http://p2pfoundation.net/Phyles>. John Robb, “EaaS (ECONOMIA como SERVIÇO),” Guerrilheiros Globais, 7 de novembro de 2010 <http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/2010/11/eaas-economy-as-aservice.html>. Phyles e Economy como Serviço de Software são discutidos no Capítulo Dois de minha minut manuscrit online Governo de Código Aberto, sob a subsecção “Legibilidade, Mecanismos de Reputação e de Verificação” <http://dl.dropbox.com/u/4116166/Open%20Source%20Government/2.%20%20Open%20Source%20Regulatory%20State.pdf>.
[115] Scott, A Arte de Não Ser Governado, p. 73.
[116] Ibid., p. 65.
[117] Ibid., p. 181.
[118] Ibid., p. 188.
[119] Ibid., p. 184.
[120] Eric S. Raymond, A Catedral e o Bazar <http://catb.org/~esr/writings/homesteading>.
[121] Doctorow, “Palestra de Pesquisa GDD Microsoft,” em Conteúdo: Ensaios Seletos sobre Tecnologia, Criatividade, Copyright, e o Futuro do Futuro (São Francisco: Publicações Táquion, 2008), pp. 7-8.
[122] Doctorow, “É a Economia da Informação, Estúpido,” em Ibid., p. 60.
[123] Schneier, Além do Medo, p. 95.
[124] John Robb, “A PLATAFORMA DE CÓDIGO ABERTO DO BAZAR,” Guerrilheiros Globais, 24 de setembro de 2004 (Por favor veja o link no texto original; por algum motivo, se inserido aqui, ele muda a largura da tabela.)
[125] Adam Higginbotham, “Instituição Militar dos Estados Unidos Aprende a Combater as Armas Mais Letais,” Wired, 28 de julho de 2010 (Por favor veja o link no texto original)
[126] Thomas L. Knapp, “A Revolução Não Será Proclamada no Twitter,” Centro por uma Sociedade Sem Estado, 5 de outubro de 2009 (Por favor veja o link no texto original)
[127] Katherine Mangu-Ward, “Lá Vem o Xerife! Lá Vem o Xerife!” Razão Bata e Corra, 6 de janeiro de 2010 (Por favor veja o link no texto original) Branan, “Polícia: Twitter usado para evitar barreiras da lei seca,” Seattle Times, 28 de dezembro de 2009 (Por favor veja o link no texto original)
[128] Felix Stalder, “Vazamentos, Denunciantes e a Ecologia das Notícias Redeadas,” n.n., 6 de novembro de 2010 (Por favor veja o link no texto original)
[129] John Robb, “Julian Assange,” Guerrilheiros Globais, 15 de agosto de 2010 (Por favor veja o link no texto original)
[130] Robb, “Guerra Aberta e Replicação,” Guerrilheiros Globais, 20 de setembro de 2010 (Por favor veja o link no texto original)
[131] Malcolm Gladwell, “Como Davi Vence Golias,” O Novaiorquino, 11 de maio de 2009 (Por favor veja o link no texto original)
[132] Jonathan Dugan, por exemplo, enfatiza Redundância e Modularidade como dois dos princípios fundamentais da resiliência. Chris Pinchen, “Resiliência: Padrões para prosperar num mundo incerto,” Blog da Fundação P2P, 17 de abril de 2010. (Por favor veja o link no texto original)
[133] Cory Doctorow, “Fatos Baratos e a Premissa Plausível,” Locus Online, 5 de julho de 2009 (Por favor veja o link no texto original)
[134] Murray Bookchin, “Rumo a uma Tecnologia Libertadora,” em Anarquismo Pós-Escassez (Berkeley, Calif.: Imprensa Os Baluartes, 1971), pp. 49-50.
[135] Scott, A Arte de Não Ser Governado, pp. 7-8.
[136] Ibid., p. 335.
[137] Ibid., p. 344.
[138] Ibid., p. 102.
[139] Ibid., p. 381n51.
[140] J. Bradford DeLong, “Florestas, Árvores e Raízes Intelectuais” (criado em 15 de março de 1999, modificado pela última vez em 18 de março de 1999) (Por favor veja o link no texto original)
[141] Thomas Hodgskin. O Direito Natural e o Artificial de Propriedade Contrastados. Uma Série de Cartas, dirigidas sem permissão a H. Brougham, Esq. M.P. F.R.S. (Londres: B. Steil, 1832); Economia Política Popular: Quatro Palestras Proferidas na Instituição de Mecânica de Londres (Londres: Impresso para Charles e William Tait, Edinburgo, 1827).
[142] Benjamin Tucker, “Socialismo de Estado e Anarquismo: Até Que Ponto Concordam, e Onde Diferem” (1888). Reproduzido no website do Instituto Molinari (Por favor veja o link no texto original)
[143] Franz Oppenheimer, “I. A Gênese do Estado,” em O Estado (Nova Iorque: Edição Vida Livre, 1975). Reproduzido em Online-Bibliothek em Franz-Oppenheimer.de (Por favor veja o link no texto original)
[144] Ralph Borsodi. A Era da Distribuição (Nova Iorque e Londres: D. Appleton e Companhia, 1929).